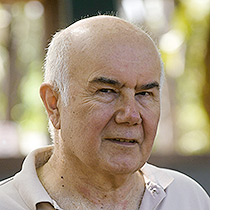Há uns 50 anos, os estudiosos diziam que países subdesenvolvidos eram sociedades com “terciário inchado”. A migração do campo para a cidade não era acompanhada da criação de indústria. Assim, milhões de pessoas se acomodavam em empregos precários e mal pagos no setor de comércio e serviços de baixa qualificação. Enquanto isso, país desenvolvido era país industrializado.
Há uns 50 anos, os estudiosos diziam que países subdesenvolvidos eram sociedades com “terciário inchado”. A migração do campo para a cidade não era acompanhada da criação de indústria. Assim, milhões de pessoas se acomodavam em empregos precários e mal pagos no setor de comércio e serviços de baixa qualificação. Enquanto isso, país desenvolvido era país industrializado.
Não durou muito essa estória. No meio dos anos 1970, um escritor conservador dizia que os Estados Unidos – líder e modelo de país industrializado – tinham virado uma sociedade pós-industrial, uma economia de serviços. Só que nessa nova versão, os serviços não eram o lugar do atraso, eram o centro da criatividade, dos empregos em tecnologia e ciência, em planejamento e projeto, em consultoria financeira. Eram o campo daquilo que mais tarde Robert Reich chamaria de “analistas simbólicos”, os sofisticados e ultramodernos trabalhadores que não produzem objetos, não manuseiam coisas, mas criam símbolos, imagens, conceitos, desenhos, códigos informáticos, descobertas tecno-científicas.
Mas nada disso escondia a realidade: nos Estados Unidos, modelo de Primeiro Mundo, estava-se criando um conjunto de bolsões cada vez maiores de Terceiro Mundo. A coisa iria piorar quando o Segundo Mundo (o bloco socialista) se desagregasse, virando uma selva de desempregados e máfias. Na pátria americana, indústrias se desmanchavam e migravam para países de baixos salários e baixos impostos. Aquilo que ficava dentro do território americano se transformava brutalmente. Os grandes oligopólios verticalizados se desmembravam – terceirizavam atividades, subcontratavam e viabilizavam a criação de um “precariado” cada vez mais vulnerável, além de uma “subclasse” simplesmente miserável. O contingente de necessitados do Food Stamp (uma espécie de bolsa família americano) atingiu o recorde de 50 milhões de indivíduos, mais de 15% da população toda.
Enquanto isso, o mundo sindical derretia. A taxa de sindicalização americana, historicamente baixa, comparada com a Europa, chegara, contudo, a uns 35% nos anos 1950. Caiu para menos de 10% nos anos 2000. As bases dos sindicatos desaparecem, os filiados também. Uma vez, o deslumbrado trabalhista Tony Blair disse que a luta de classes tinha acabado. O megaempresário Warren Buffet foi mais prudente: “A luta de classes continua existindo – e a minha classe está vencendo”. Blair poderia ter evitado a lição.
E o que acontece do lado de baixo, daqueles que estão perdendo essa guerra? Aí existem subculturas diferentes. De um lado a chamada White working class, que um dia foi a base social dos sindicatos e do Partido Democrata. Os trabalhadores brancos que havia sentido o gosto do emprego de longa duração, com benefícios indiretos, plano de saúde e de aposentadoria, ascensão em carreiras longas.
Agora vivem de bicos e expedientes, a carreira e o emprego viraram a oportunidade de “tarefas” ocasionais, negociadas individualmente e a cada dia ou semana. Essa White working class está sitiada, principalmente, nas velhas cidades do nordeste e meio-oeste do país, o coração da grande indústria ianque. Mas cresce, também, no sul, para onde as fábricas se mudaram graças às leis e tradições anti-sindicato.
Outra parte da classe trabalhadora abriga aquilo que ainda se costuma chamar de “minorias”. Negros do centro degradado das grandes cidades. Latinos e outros imigrantes pobres. Essa é a massa dos empregos da “economia de serviços” de baixa renda – limpeza, zeladoria, cuidadoras, manutenção de edifícios e estradas, transporte e armazenagem, comércio de rua, quiosques e bodegas. Tradicionalmente imune a sindicatos (e por eles rejeitados), assediados por igrejas evangélicas pentecostais, parecem um reino da alienação e do desespero.
Contudo, aí também se nota uma crescente fermentação de rebeldia e associativismo. Desenvolve-se nesse terreno um “sindicalismo-movimento social” peculiar. Não mais calcado e organizado a partir da empresa (fabril ou comercial), mas no terreno da moradia – o barrio, a neighborhood, o gueto. Surgem como movimentos por direitos civis – não ser roubado pelos patrões, ter direito a escola e assistência social, eliminar discriminações de todo tipo.
Manifestam-se por meios diferentes – passeatas, ocupação de prédios e praças públicas. Criam worker centers que são uma mistura de local de reunião, centro de serviços de apoio mútuo, centros de cultura. Aqui e ali, firmam acordos com sindicatos tradicionais, quando estes se abrem à iniciativa. A própria central americana, tradicionalmente burocrática e direitista, foi sacudida por transformações sucessivas, desde meados dos anos 1990. Em 2003, lançou um movimento comunitário voltado para esses trabalhadores, majoritariamente informais e imigrantes – o Working America.
Em suma, o tempo não para e a luta de classes segue em frente, apesar da negação de trânsfugas como os Toni Blair da vida. O empresário Buffet ainda pode dizer que sua classe está vencendo. Está. Mas, aparentemente, aos trancos e barrancos, a nova classe trabalhadora reconhece sua nova identidade, reconstrói suas ferramentas, visualiza um novo horizonte de lutas e conquistas.
Não foram apenas dirigentes políticos que “desistiram” da classe trabalhadora ou decretaram o fim de seu protagonismo político. Nas últimas décadas proliferaram novos “teóricos” da pós-modernidade e das plataformas pós-materialistas.
Alguns foram bem longe, decretando o caráter estrutural e definitivo desse esvaziamento político. Manuel Castells, por exemplo, no final dos anos 1990, dizia que a “era da informação” tinha colocado em segundo plano os trabalhadores, incapazes de influir sobre o conflito ou coesão social, o cenário politico e ideológico. O proletariado não seria mais o “sujeito político” da transformação, uma identidade política capaz de liderar um projeto de sociedade. Para o sociólogo espanhol, os novos movimentos “identitários” e sem definição de classe, eram os novos portadores da mudança, na nova era [Castells, 1997, pp. 354-360]. Visões como essas se espalharam.
E, no entanto, para incomodar a “teoria”, aqui e ali apareciam sinais do antigo personagem rebelde, que se recusava a assinar seu atestado de óbito. A greve geral dos franceses contra a política de austeridade, na França do meio dos anos 1990, a renovação da central sindical americana (AFL-CIO), depois de décadas de burocratismo conservador, um novo sindicalismo naquele país, o chamado alt-labor, baseado em conflitos e não na gestão de acordos de gabinete, alicerçado em trabalhadores negros e latinos, precários e marginalizados pelas velhas estruturas de representação trabalhista.
Será isso apenas um sopro final, a última visita da saúde, precedendo a morte? Ou estamos diante da metamorfose da velha luta de classes, a reaparição da velha toupeira, que durante todo esse tempo cavou seu caminho sob o solo?
Aquilo que se vê nos Estados Unidos talvez seja a reedição da famosa frase de Marx: os países adiantados colocam diante dos atrasados um espelho de seu futuro. Os sindicatos brasileiros – e toda a esquerda – ganhariam muito se observassem como o conflito renasce e se reconfigura, naquele lugar onde o capital firmou seu quartel general.
O sindicato da grande fábrica de automóveis, do petróleo e da química continuará a existir. Não se faz chapa e perfilados de aço em quiosques e microempresas individuais, não se extrai e refina petróleo em fornos domésticos. Mas ao lado desse núcleo capitalista mais formal e concentrado, há todo um mundo de capitalismo selvagem, com trabalhadores fragmentados, amontoados em bairros periféricos, sem direitos, seduzidos por assembleias religiosas, domesticados pela TV, cortejados por demagogos ultraconservadores. Um mundo a roubar das trevas e a conquistar para a luz.
Este artigo é trecho do livro Classe Trabalhadora Capitalismo, classe trabalhadora e luta política no início do século XXI: experiências no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e França, de Marcio Pochmann e Reginaldo Moraes, ed. Perseu Abramo, 2017.