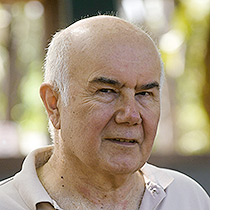Em 2016, os cidadãos do Reino Unido votaram em um referendo pela saída da União Europeia – o Brexit. O resultado da votação foi muitas vezes interpretado pela mídia como uma espécie de “revolta da classe trabalhadora” ou “vingança dos perdedores da globalização”. Em outros termos, era o voto do lado de baixo da sociedade. Era o grito de revolta dos mais vulneráveis, dos mais afetados pela globalização, pelos “ajustes” neoliberais e pelo desmantelamento das políticas públicas de bem-estar social. Faz sentido, não?
Em 2016, os cidadãos do Reino Unido votaram em um referendo pela saída da União Europeia – o Brexit. O resultado da votação foi muitas vezes interpretado pela mídia como uma espécie de “revolta da classe trabalhadora” ou “vingança dos perdedores da globalização”. Em outros termos, era o voto do lado de baixo da sociedade. Era o grito de revolta dos mais vulneráveis, dos mais afetados pela globalização, pelos “ajustes” neoliberais e pelo desmantelamento das políticas públicas de bem-estar social. Faz sentido, não?
Quanto Trump ganhou a presidência americana, essa interpretação, agora quase lenda, foi adaptada para explicar o fenômeno laranja. Dizia-se que o ricaço excêntrico tinha sido adotado como herói pela “classe trabalhadora branca”, os trabalhadores de macacão no chamado “cinturão da ferrugem”, a região que outrora fora o reino da indústria e hoje é povoada de cidades-fantasmas, decadentes, sem empregos e sem futuro.
Temos aí umas verdades muito verdadeiras – os efeitos deletérios, trágicos, do capitalismo de nossos dias, dos quais se deduz algo plausível e até intuitivo –, o voto “de protesto” ou “ressentido”. Até aí... parece bem, não?.
Mas alguns estudos empíricos têm mostrado que há pontos cegos nessas interpretações. Por exemplo, numerosas pesquisas contestam ou relativizam fortemente a afirmação de que a vitória de Trump se baseia no voto massivo da “classe trabalhadora branca”, outrora democrata. [já comentamos alguns deles em uma série de artigos, aqui no JU [começa em https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/reginaldo-correa-de-moraes/resistivel-ascensao-de-donald-trump-o-caminho-do-sucesso-i]
Mas antes mesmo dos dados empíricos, o problema começa, de fato, com os próprios conceitos empregados nas fórmulas explicativas. Por exemplo, a própria noção de privação, de prejuízo, é ambígua para caracterizar o povo envolvido nessas ações “rebeldes”. Entre o fato da perda e a perda percebida, há uma distância que faz diferença.
Quando olhamos para essas ambiguidades, notamos o quanto são complexos os comportamentos humanos. As reações políticas (entre elas, o voto) estão longe de serem reflexos condicionados e unívocos de um mundo “dado”, líquido e certo. Seres humanos não são exatamente ratos de laboratório, que respondem automaticamente e de modo uniforme aos estímulos do experimentador. Aliás, nem com esses ratinhos esse automatismo é assim...
As reações dependem de um véu interpretativo, da ação da subjetividade e da intersubjetividade, das interações entre pessoas, da política. Outro problema: não é apenas a privação, vista de fora, objetivamente, que leva a esse voto “duro” e ressentido. O gatilho motivador pode ser a percepção da privação, coisa bem diferente, que também depende do modo como ela é “presentificada” nas mentes e nos corações. E esta percepção, aliás, pode ocorrer entre aqueles que não foram atingidos pela privação, no sentido estrito do termo.
O estudioso Ted Gurr (em Why Men Rebel, de1970) diferenciava entre privação objetiva e subjetiva. Não é necessariamente a condição econômica do indivíduo que conta para definir seu nível de tolerância, mas a percepção que ele tem de sua posição relativamente à dos outros. Nesta simples e elementar frase, um sem-número de relativizações foi introduzido. Os véus que se colocam entre os fatos e a percepção dos fatos são decisivos, portanto. Assim, se alguns tiverem como controlar esses véus, por exemplo, terão uma grande probabilidade de controlar a percepção, os fatos percebidos. Quem (ou quais organizações) detêm esse poder de modelar a recepção e percepção dos “fatos”?
Essa observação nos vacina contra inclinações “intuitivas”, mas traiçoeiras, como a de sair prendendo os “suspeitos de costume” quando vemos “desordem”, crimes de ódio, racismo, intolerância. Esses “desvios de conduta” não vêm necessariamente nos períodos de depressão econômica nem necessariamente nos grupos mais pobres da sociedade.
A intuição traiçoeira nos leva a desconsiderar entre os “suspeitos” os “homens de bens”, por exemplo. Leva-nos a pensar que os “homens de bens” são mais estáveis, podem ser dar ao luxo da generosidade e da tolerância, mesmo quando a economia desce a ladeira. Leva-nos a esperar comportamento tosco e intolerante... dos feios, sujos e malvados.
O problema é que volta e meia nos damos conta de que os “desvios de conduta” não se restringem aos perdedores ressentidos, mas são presentes, e às vezes mais fortes, entre os ganhadores embriagados pelo sucesso. Em especial, os “bem de vida” têm suas próprias ansiedades e fobias, muito fortes e que podem se traduzir em atitudes mais “hard” contra os de baixo.
Talvez seja menos intuitiva a ideia de que partidos ‘extremos” possam florescer em tempos de prosperidade. Ou entre eleitores prósperos. É aparentemente mais “normal” a ideia de que, aqueles que mais sofrem, mais berram e mais esperneiam – e que exibem seu descontentamento de modo “irracional e extremado”. Mas a cada passo nos damos conta de que isto é mais um preconceito “perfumado” do que algo que tenha evidências empíricas. Um grande número de partidos e correntes extremistas começou a florescer nos Estados Unidos e na Europa em um pequeno período de prosperidade dos anos 1990, um período que um famoso príncipe-sociólogo chegou a chamar de “Novo Renascimento”. E agora, analisando os dados dessas votações, Brexit e Trump, vemos que o “voto duro” foi proporcionalmente maior entre os “homens de bens”.
|
O experimento de Robbers Cave Em 1954, uma equipe de psicologia social liderada por Muzafer Sherif realizou o chamado “Experimento de Robbers Cave”. Testava a formação de atitudes e sentimentos preconcebidos e a dinâmica de conflito entre grupos. Um grupo de adolescentes foi levado a um acampamento de verão, no parque estadual de Robbers Cave, Oklahoma, sem saber que estavam sendo testados pelos instrutores (que na verdade eram pesquisadores). Os dois grupos tinham perfis muito parecidos. Eles foram divididos em dois grupos e os pesquisadores-instrutores inicialmente os separaram rigorosamente. Depois, foram sendo postos em contato – mas em competições. A pesquisa mostrava como era fácil produzir rivalidade – um confronto do “eles contra nós”. Os pesquisadores-instrutores radicalizavam a tensão – por exemplo, estimulando que se rotulassem preconceituosamente. Depois de duas semanas, eram duas tribos em guerra. Nessa altura, o experimento mostrava, de modo exemplar, como o pertencimento ao grupo modelava o indivíduo e afetava sua relação com os “de fora”, os “intrusos”, distorcendo a percepção da realidade e facilitando a formação de estereótipos. Adicionalmente, foram feitos alguns testes para verificar caminhos que levassem à cooperação e não ao confronto. Por exemplo, os pesquisadores forjaram uma crise de falta de água, de modo que as duas equipes rivais precisaram trabalhar em conjunto para resolvê-la. Por que introduzo este box, dentro do artigo sobre os movimentos radicais recentes? Talvez esse simples experimento nos diga algo a respeito da tribalização da política, da possibilidade de produzi-la ou explorá-la. Ou, mais longinquamente, da possibilidade de superá-la. Por vezes dá a impressão de que é necessária uma tragédia para desafiar a necessidade de desmanchar os estereótipos. Desde que não existam atores cuja política seja precisamente a de exacerbar tais estereótipos... e governar os grupos rivais. |