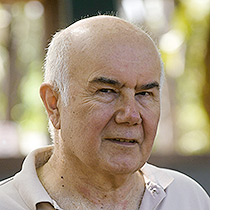Merenda escolar é um prato indigesto? Depende. Em São Paulo é. Algo assim como falar de corda em casa de enforcado. Pronuncie o termo em certos ambientes e a reação de desconforto será imediata. Como se você estivesse insinuando algo sobre as aventuras do alto escalão do governo estadual – assaltando os cofres das compras de alimentos. Outros talvez suspeitem que estejamos relembrando o caricato episódio da ração-farinata do prefeito interino da capital paulista (já comentado aqui no Jornal da Unicamp).
Merenda escolar é um prato indigesto? Depende. Em São Paulo é. Algo assim como falar de corda em casa de enforcado. Pronuncie o termo em certos ambientes e a reação de desconforto será imediata. Como se você estivesse insinuando algo sobre as aventuras do alto escalão do governo estadual – assaltando os cofres das compras de alimentos. Outros talvez suspeitem que estejamos relembrando o caricato episódio da ração-farinata do prefeito interino da capital paulista (já comentado aqui no Jornal da Unicamp).
O prefeito da ração – devidamente abençoada por uma batina alegre – não estaria sozinho entre os provedores de respostas criativas. Certa vez, o secretário de Reagan argumentou que ketchup poderia ser considerado vegetal em uma alimentação “balanceada”. A refeição-combo do nutricionista ianque era esta: hambúrguer, batatas fritas e ketchup. Não estou brincando, gente! Está nos autos do processo.
Mas há algo mais interessante a estudar – e esse é um convite a nossos especialistas, coisa que definitivamente não sou. Minha simples ou simplória curiosidade levou-me a folhear um livro organizado por Suzanne Rice em que ela registra, com espanto, que “os livros mais citados sobre a merenda escolar nos Estados Unidos foram escritos por pesquisadores fora do campo geral da educação”. [Educational Dimensions of School Lunch, Palgrave MacMillan, 2018]
E isto acontece, diz ela, em um país em que perto de 50 milhões de estudantes fazem refeições durante o período escolar. Quase 10 bilhões de refeições são servidas nas escolas (nível fundamental e médio) por ano, por dois grandes programas, o tradicional National School Lunch Program (NSLP, de 1946) e o National School Breakfast Program, mais recente.
Até mesmo do ponto de vista econômico esse aparato é relevante. Um big business. Se compreendemos todos seus componentes, o sistema alimentar americano movimentaria perto de 1 trilhão de dólares por ano, envolvendo, em seus vários anéis, uns 20% da força de trabalho. A rede de escolas primárias e secundárias representa uns 15% do serviço alimentar “não comercial” ou, em outros termos, cerca de 2,5% de todas as vendas do sistema alimentar e de restaurantes.
Daí fui atrás dos dois mais citados livros do ramo. Um deles de Janet Poppendieck, Free for all: Fixing school food in America (University of California Press, 2010]. O outro é de Susan Levine – School lunch politics : the surprising history of Americas favorite welfare program (Princeton University Press, 2008),
A investigação é extremamente interessante e provocadora – inclusive, repito, para nossos especialistas. Os livros partem do pressuposto de que uma política de alimentação nas escolas é um problema social de amplo espectro. Mas também se asseguram de que é uma política de enorme importância para a educação, estrito senso. É parte de algo que numerosos outros pesquisadores haviam apontado – basta ver o balanço de J. Anyon, que se pergunta: What counts as educational policy? Notes toward a new paradigm.[Harvard Educational Review, abril de 2005]
Pode parecer óbvio, o famoso chover no molhado. Talvez não. Lembro-me de um episódio, quando a prefeita Luiza Erundina apontou como fundamental a alimentação das crianças nas escolas do município de São Paulo. Mais de um “educador” torceu o nariz, dizendo que se tratava de uma política de “assistente social” (a profissão de Erundina) e não de uma pedagoga. Mais tarde, quando Marta Suplicy adotou um pacote com esse perfil, beneficiando crianças pobres da periferia, foi acusada, inclusive por vereadores ditos de esquerda, de desviar recursos da educação para fins não educacionais. Era falso em todos os sentidos, inclusive no orçamentário – mas o mais importante era o conceito de “fins educacionais”. Janet Poppendieck sintetiza os achados de inumeráveis pesquisas sobre o tema:
“Estudo após estudo, temos a demonstração de que a fome interfere na capacidade de apreender. Desnutrição de longo prazo pode interferir no desenvolvimento do cérebro, mas mesmo ocorrências de mais curto prazo são um problema. Crianças colocadas nessa situação são mais apáticas, introvertidas, irritadas e hostis. Têm dificuldade de concentração, distraem-se com facilidade. Ficam doentes com mais frequência e perdem dias de aula mais do que as crianças bem alimentadas. Podem agir na sala de aula de modo a interferir na aprendizagem das outras crianças” [Free for all : fixing school food in America, University of California Press, 2010]
Mas voltemos ao caso americano, que muito pode sugerir para a reflexão tupiniquim. Por seus resultados, motivações e ziguezagues. O livro de Susan Levine é o mais detalhado.
Levine sublinha que o programa das merendas é o mais famoso e popular programa social americano. E, desse modo, exibe todas as ambiguidades do sistema social evolvente, suas barreiras e desigualdades. A começar pela origem. De fato, tudo indica uma motivação dividida na criação do programa.
"Foram democratas conservadores do Sul que, no final do New Deal, propuseram um programa de merenda escolar federal com financiamento permanente. Com efeito, a lei de 1946, criando um programa de merenda escolar nacional recebeu o nome do senador da Geórgia Russell Richard, um acérrimo segregacionista e adversário dos direitos civis. Ainda que a prioridade de Russell fosse proteger um programa no qual acreditava, ele também foi motivado por uma preocupação duradoura com os problemas da pobreza em sua região e com as consequências para a defesa nacional, ligando tudo isso à ideia de crianças saudáveis para a futuro da prosperidade e do poder americano”.
A origem e as motivações modelariam o desenvolvimento do programa. O partido democrata era muito forte no sul – e sua composição era muito marcada pelo conservadorismo, para dizer o mínimo. Era a voz dos grandes proprietários rurais, os herdeiros do escravismo sulista. De fato, eles utilizavam seu poder de veto no Congresso para “domesticar” todas as políticas avançadas de nível federal. O meio de fazê-lo: deixar a Washington o poder de escrever a forma geral da lei e deixar nas mãos dos governos estaduais e locais o seu detalhamento e execução. Quando se chegava lá “na ponta”, os programas já estavam devidamente enquadrados pelos conservadores. Um sistema que perpetuava as desigualdades.
Na origem do programa escolar havia um vetor forte que marcou sempre a evolução do programa. Na verdade, ele parecia responder a uma outra demanda, que não a alimentação saudável para crianças. Um objetivo central, talvez o maior, era dar vazão às demandas de agricultores e de processadores da agroindústria. Estoques transbordando em certas mercadorias e escasseando em outras. Isso determinava, por exemplo, a composição do “menu”, mais determinado pelos excedentes de commodities do que pelas necessidades nutritivas dos guris e gurias. A polêmica sobre o ketchup como componente vegetal era parte do enrosco.
Durante os anos 1950, o programa atingia apenas um terço dos escolares. E até a segunda metade dos anos 1960, ainda era pequena a parcela de crianças que recebiam a merenda de graça. Uma parte considerável precisava pagar (ainda que com subsídio). Em certa medida isso facilitava a estigmatização dos garotos da “fila do grátis”. Mas para estes era questão de sobrevivência: praticamente o único programa que os separava da fome pura e simples. Depois de 1970, foi o principal e mais popular programa social do governo. Era, de fato, um programa da famosa “guerra contra a pobreza”.
Não sou especialista no tema. Nem meio especialista, apenas um ignorante curioso. Mas é uma boa sugestão utilizar essas pistas do programa norte-americano para entender nos nossos programas de merenda, sua história, motivações e ziguezagues. Por exemplo, podemos nos perguntar como eles foram cruzados com conhecidos programas de ajuda alimentar, como o Food for Peace americano. Afinal, algo isso tem a ver com a popularização do trigo e do leite em pó em uma área tão improvável como o Nordeste brasileiro?