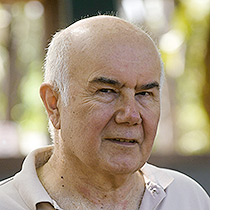Estados Unidos, 1990, fermentava um debate sobre um alegado gargalo na geração de força de trabalho qualificada, preparada para os desafios da “economia baseada em conhecimento”. Organizada em torno do National Center on Education and Employment, uma comissão de democratas e republicanos publicou um relatório que daria o que falar: America's Choice: High Skills or Low Wages. Está disponível em: http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2013/09/Americas-Choice-High-Skills-or-Low-Wages.pdf.
Estados Unidos, 1990, fermentava um debate sobre um alegado gargalo na geração de força de trabalho qualificada, preparada para os desafios da “economia baseada em conhecimento”. Organizada em torno do National Center on Education and Employment, uma comissão de democratas e republicanos publicou um relatório que daria o que falar: America's Choice: High Skills or Low Wages. Está disponível em: http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2013/09/Americas-Choice-High-Skills-or-Low-Wages.pdf.
O relatório alertava que trabalhadores com "novas habilidades” seriam essenciais para aumentar a produtividade e arrancar a economia americana de um desastre anunciado. Evidentemente, a afirmação supunha que o declínio de produtividade registrado na década anterior se devia… à ausência de tais “skills”. Curiosamente, logo nos anos seguintes ao relatório houve um significativo crescimento de produtividade, utilizando a mesma força de trabalho desqualificada pelo relatório. O descompasso não assombrou a comissão, que anos depois editava um estudo com tom e receitas similares (Tough Choices, Tough Times), disponível em http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2010/04/Executive-Summary.pdf .
Os “tough times” seguiam limitando as “choices” e a comissão continuava a brigar com os dados da realidade. Se estes se chocavam com as convicções dos “especialistas”, tanto pior para os dados.
O argumento da Comissão é algo contorcido e vale a pena olhar mais de perto. Ela começa por dizer que, na forma de organização do trabalho então reinante nos EUA – o taylorismo – a maior parte dos trabalhadores não precisava ser educada. Era adestrada. Mas, uma vez que diagnosticava uma cadente produtividade, isso precisava mudar. Alertavam que um gargalo de força de trabalho ainda não era flagrante porque a economia americana estava relativa e temporariamente protegida do vendaval globalista.

Mas isso era uma escolha ruim, a de um país baseado em salários baixos, baixa produtividade, baixas competências. Para viabilizar a outra via, a do país de high skills, contemporâneo da nova revolução industrial em curso, seria necessário um outro sistema formador de força de trabalho. Infelizmente, diziam, isso se chocava com o péssimo sistema americano de transição da escola para o trabalho. Era preciso melhorar o cenário, sobretudo para os estudantes “non-college bound”, isto é, para aqueles que não chegavam nem nunca chegariam ao ensino superior, a famosa “maioria esquecida”.
Em 2007, a comissão, com o reforço de novos especialistas, emitiu nova sentença: as tendências anteriores eram agora confirmadas e acentuadas. A globalização deixava de ser uma onda, ainda que forte. Virava um tsunami.
As empresas americanas – tradicionalmente organizadas na forma da integração vertical manufatureira – entravam em outra fase, de “desintegração” ou de “reengenharia”. Generaliza-se a convicção de que a empresa “enxuta” e dinâmica, adequada aos novos tempos, deveria concentrar-se em sua atividades nucleares (o “core” da empresa) e na subcontratação de fornecedores de componentes e serviços, o outsourcing. Cadeias, cadeias, cadeias.
Ao lado do outsourcing e da deslocalização de plantas industriais, a automação chegava para transtornar as ocupações e empregos. Os aspectos mais rotinizáveis do trabalho podiam ser convertidos em códigos e estes podiam ser embutidos em um equipamento. Assim, multidões de empregos bem pagos, responsáveis pela formação da famosa “classe média” trabalhadora americana, seriam fulminados pelas engenhocas computadorizadas. Não apenas torneiros mecânicos ficariam obsoletos. Também as ocupações de back-office, rotinizáveis e automatizáveis.
E o que fazer com aqueles “non-college bound”, de escassa educação e deficiente treinamento? A solução da comissão de especialistas é um pacote de reformas.
Contudo, essa mudança tem que ser profunda, pode ser cara, é a mudança de um sistema, não de elementos do sistema. A Comissão esboça até mesmo uma alteração no inteiro desenho do sistema educativo americano, da sequência de escolas (fundamental, média, superior) e da passagem dos estudantes pelos diferentes degraus. O relatório é de 2007 e, pelo menos por enquanto, tais alterações não se fizeram observar, a não ser aquelas que já estavam sendo experimentadas, as privatizantes que já haviam deslanchado desde o governo Reagan.
O leitor que examina esses documentos integrando-os na história econômica dos Estados Unidos pós-guerra vê ai numerosos pontos verossímeis, mas uma articulação que deixa a desejar. Um traço destacado do relatório é a imagem estilizada em que resume sua visão da hierarquia do mundo econômico. Veja adiante:
Repare nessa “divisão do trabalho” e nas datas. O relatório é de 2007. Seu prazo de previsão (dez anos) está se fechando. A compartimentação sugerida por esse diagrama faz hoje algum sentido ou é mais uma das brigas daqueles “especialistas” com a realidade? If all goes well, dizem eles – well, defina goes well...
O diagrama registra dois mundos: Estados Unidos e os países menos desenvolvidos. Aparentemente, ignora a existência, digamos, de alemães, japoneses, alemães e europeus, em geral. E coreanos. E indianos. E chineses. A não ser que tudo isso caiba no less developed countries.
Diz a velha piada que seria necessário combinar com os russos. Agora, aparentemente, seria preciso combinar com todos esses less developed. Quando olhamos para a indústria do software na Índia nos perguntamos que diabo ela faria nesse esquema. E quando olhamos para a avalanche dos “chinas”, a coisa piora. Afinal, na caricatura de algum tempo atrás, chineses eram aqueles caras que faziam quinquilharias, sapatos e camisas baratas. O “trabalho de rotina”? Na data prevista pelo relatório, 2017, parece que não é bem assim.
Deixemos de lado as empresas chinesas propriamente ditas. Veja, por exemplo, a norte-americana Motorola. Ela investiu mais de 4 bilhões de dólares em suas plantas chinesas, desde que chegou lá, em 1987. Só que uma boa parte desses dólares foi para atividades de R&D, não para a atividade produtiva “rotineira”. Em 2011, a companhia já possuía 10 mil empregados no território chinês, em 2011 – e mais de 3 mil trabalhavam em pesquisa e desenvolvimento. A GE, diz a Harvard Business Review, está subvertendo a si mesma produzindo “inovação reversa” a partir de suas plantas na China e na Índia. Com equipamento de medicina diagnóstica, por exemplo. Já em 2005, um relatório da Unctad anunciava esse movimento. Está disponível online: World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D.
De outro lado, muitas das empresas americanas abandonam essa nacionalidade, viram “estrangeiras”. De modos diferentes. A Motorola passou para o controle da chinesa Lenovo. Mas a Apple já é cidadã de Cayman, sem ter sido comprada por ninguém. E centenas de outras seguiram o mesmo caminho, não necessariamente para a mesma ilha. Até as empresas de fast-food, algumas delas sediadas na Suíça, lá perto de Darvos. Em 2016, o próprio Barak Obama lamentava a falta de “patriotismo” dessas corporações, que trocavam de passaporte e, claro, de lugar de tributação.
Definitivamente, o mundo ficou bem mais confuso. Como dissemos, poucas das recomendações do relatório foram adotadas – com exceção das mais abertamente privatizantes, coisa que não nasceu desse tipo de estudo nem dele depende. E suas receitas para a formação da força de trabalho, se dependerem das previsões, ficam ainda mais distantes da realidade.
Apenas uma coisa parece certa e, infelizmente, ainda ignorada: os non-college bound continham sendo a “maioria esquecida”. Servem apenas como bucha de canhão em campanhas eleitorais – são os deploráveis de Hilary e os espantalhos de Trump.