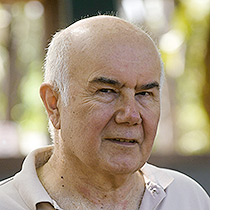O sistema de educação superior norte-americano – com destaque para suas universidades de pesquisa – já havia adquirido porte em 1930. Já era suficientemente forte para atrair cientistas europeus, inquietos com as turbulências e incertezas políticas de seus países.
O sistema de educação superior norte-americano – com destaque para suas universidades de pesquisa – já havia adquirido porte em 1930. Já era suficientemente forte para atrair cientistas europeus, inquietos com as turbulências e incertezas políticas de seus países.
Mas foi depois da II Guerra que esse sistema se transformou em uma tremenda máquina de pesquisa e inovação, inovação fortemente impulsionada pelo gasto militar – pesquisa encomendada de grande porte e praticamente a fundo perdido. Essa máquina – o complexo industrial-militar-acadêmico – gerou tecnologias de aplicação genérica e transbordou para aplicações civis que deram ao mundo produtivo americano uma vantagem suplementar no cenário do pós-guerra. Foi assim, por exemplo, que a pesquisa para o desenvolvimento do B-52 desdobrou-se no Boeing. Ou que o projeto Tiger desdobrou-se no Federal Express. Há milhares de exemplos. Até coisas triviais como o forno micro-ondas nasceram em laboratórios militares.
Dizemos que desse complexou resultou uma vantagem suplementar porque já havia uma vantagem derivada do próprio conflito bélico, de seu efeito destrutivo – as economias europeias e asiáticas (Japão, especificamente) saíam desse cenário destruídas, enquanto a indústria americana e seu setor público, pelo contrário, haviam se construído através da guerra.
Esse cenário foi decisivo enquanto durou – até o final dos anos 1960, mais ou menos. A partir daí, a reconstrução dos aliados começava a gerar competidores. Em algumas áreas, as indústrias europeias e nipônicas estavam mesmo à frente dos americanos, beneficiadas por algo que se costuma chamar de vantagem dos tardios – podiam adotar a última palavra nos equipamentos, processos, desenhos produtivos, enquanto os americanos tinham um lastro de instalações e linhas de produção mais antigas.
Passados os “vinte e cinco gloriosos” do pós-guerra, as empresas norte-americanas teriam que tratar com esse novo quadro adverso – e ajustar-se a ele. Talvez tenha sido Robert Reich o primeiro a difundir a tese de que esse ajuste, ao invés de caminhar pelo antigo processo de inovar tecnologicamente (na produção), optou por um caminho menos virtuoso, até mesmo perverso, através de inovações especulativas e contábeis, o “capitalismo de papel”. As empresas passaram a disputar nacos dos fundos públicos, explorando brechas da legislação para pagar menos impostos, furar regulações, especular com produtos financeiros, etc. Uma variante dessas táticas é a enorme renúncia à nacionalidade americana – centenas de empresas agora se declaram cidadãos das Bahamas, Bermudas e outros paraísos fiscais. Um subproduto desse novo mood teria sido, por exemplo, o redesenho do perfil dos managers – não sairiam mais do setor de vendas e engenharia, sairiam da finança; não eram mais organizational men, que subiam na empresa depois de anos e anos dentro da firma, eram experts financeiros contratados, que por vezes sequer sabiam o que a empresa produzia. Daí para a especulação com papéis e ‘contabilidade criativa’, há apenas um passo. Para a instalação de “sedes” em paraísos fiscais... quem sabe um passo e meio. Vários estudos foram feitos mostrando tal mudança. E outro subproduto, aparentemente, foi a inclinação maior dos estudantes para campos outros que não a engenharia e as ciências, mas para as escolas de direito e administração. Ainda outro subproduto parece ter sido a mudança das atividades de “consultoria”. As empresas desse tipo deixaram de trabalhar sobre produtos e processos, manufatura, etc. Desenvolveu-se tremendamente um outro tipo de consultoria: contabilidade criativa, orientação tributária, estudos sobre modos de contornar regulações legais, etc.
Quando olhamos o quadro dos prêmios Nobel, elaborado por estudiosos especializados, temos esta revelação:

O que Richard Nelson e Gavin Wrigth procuram mostrar, nesse ensaio, é um traço claro da liderança econômica e tecnológica americana na segunda metade do século XX. Enquanto a “ciência dura” dos europeus estagna ou reduz sua velocidade, os americanos decolam, inclusive pela incorporação de cientistas daqueles países, um outro saldo da guerra.
A fila anda, diz a frase popular. Esse quadro foi-se alterando ao longo do tempo, com um ponto de inflexão ali pela metade da década de 1980. Tem algo revelador a identificar a data de tal ponto de inflexão – a metade dos anos 1980, precisamente quando os americanos estão passando pela “revolução financeira” de sua economia, em que a engenharia estrito-senso parece ceder espaço para a engenharia financeira, tanto na direção das corporações quanto nas expectativas dos jovens estudantes (a escolha dos cursos).
Anos mais, tarde, um estudo da National Science Foundation [Human Resources for Science & Technology: The European Region, NSF-96-316] adverte:
“As universidades europeias e asiáticas são geralmente mais focadas em ciências naturais e engenharia (NS& E) do que as dos Estados Unidos. Cerca de 30 por cento dos diplomas de graduação nos países da União Europeia (UE) são das áreas de ciências naturais e engenharia; cerca de 15 por cento dos bacharelados são concluídos nestes campos.”
A esse respeito, os gráficos a seguir (sempre do mesmo estudo da NSF) são instigantes e sugestivos:

Intrigado com esse contraste, passei a prestar atenção a tal aspecto específico, nos estudos sobre a sociedade americana. Um desses estudos, de William Lazonick, registra que no ano letivo 2003-2004 as universidades americanas haviam gerado uns 137 mil bacharelados nas áreas de engenharia, ciências da computação e tecnologia da informação. No mesmo período, a Índia havia diplomado 139 mil – e China, nada menos do que 361 mil. Lazonick comenta que um grande número desses graduados indianos e chineses ia em seguida para os Estados Unidos para fazer pós-graduação. Para quem tiver interesse, o estudo é este: Sustainable prosperity in the New Economy – Business Organization and High-Tech Employment in the United States, Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo-Michigan, 2009]
Lazonick discute esse quadro dentro de uma tradicional polêmica americana – quase uma obsessão – com os flagrantes declínios do desempenho de estudantes de nível médio, em especial quando medidos em exames padronizados internacionais, nos quais ficavam atrás de países bem menos aquinhoados. Não é esse viés que vou explorar. Lazonick aponta outro, talvez mais intrigante – o desempenho particularmente fraco dos estudantes de ‘minorias’, como os latinos e negros. E a participação declinante (para os negros) ou estagnante (latinos) destas minorias no emprego em grandes corporações – e em especial nesses empregos STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). E o emprego crescente de asiáticos. Mais revelador ainda é outro indicador que tem sido apontado por diversos estudos: a exportação de empregos de nível superior para as filiais de empresas americanas na Ásia (Índia, China, etc) ou para empresas asiáticas fornecedoras de serviços para as americanas (outsourcing).
Anotei então outros dados de um estudo sobre o ensino superior (especialmente de pós-graduação) norte americano recente: Wendler, C., Bridgeman, B., Cline, F., Millett, C., Rock, J., Bell, N., and McAllister, P. (2010). The Path Forward: The Future of Graduate Education in the United States. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Nesse estudo, fico sabendo que o percentual de evasão nos cursos de pós-graduação é próximo de 50% (p. 27). Alto, mas não é apenas isso que intriga. São dados como estes:
Em 1977, 82% dos doutorados nos Estados Unidos foram concedidos a cidadãos americanos, mas em 2007 esse número havia caído para 57%. Em engenharia, apenas 29% dos doutoramento foram obtidos por cidadãos americanos (abaixo dos 56% de 1977), e a porcentagem hoje nas ciências físicas é de 43% (abaixo dos 76% de 1977). Mesmo na área de educação, a porcentagem de doutoramentos para cidadãos dos EUA diminuiu, de 91% em 1977 para 81% em 2007. (p. 21)
Muitos desses estrangeiros ficam nos EUA. Uma outra parte volta para os seus países e ali se empregam em filiais americanas ou empresas locais fornecedoras destas – a preços bem menores do que se estivessem vendendo sua força de trabalho nos EUA. E assim se redesenha a distribuição da força de trabalho de nível superior no mundo, um fenômeno que alguns estudos já estão apontando.
Resta saber qual o impacto acumulado dessa tendência dentro dos Estados Unidos. A renda e sua distribuição, por exemplo. Quando juntamos essa ‘exportação’ de empregos com a transferência de sedes de empresas para paraísos fiscais – um esporte florescente nos Estados Unidos – temos um quadro do quanto pode ser predatória a atividade das grandes corporações americanas. Elas ganham de vários modos, inclusive reduzindo seus compromissos com o fisco. Eventualmente, também alguns empregados qualificados no terceiro mundo ganham com isso – e o estado americano perde capacidade de investir na infraestrutura, nas políticas sociais, na educação. Pode ser que esteja virando verdade algo que se dizia como provocação jocosa anos atrás - será que os Estados Unidos estão mesmo se tornando um país do terceiro mundo? Sim, exagero, exagero, impressões ainda pouco fundadas. Mas os dois últimos presidentes – tão diferentes como são - fizeram constantes declarações dando a entender que achavam tais impressões no mínimo dignas de preocupação.