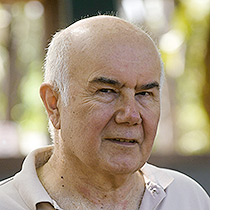Melhor morrer de vodka do que de tédio, dizia Maiakóvski. No império de Bush II ninguém podia reclamar de tédio.
Melhor morrer de vodka do que de tédio, dizia Maiakóvski. No império de Bush II ninguém podia reclamar de tédio.
A permanência do terror de estado era reforçada por doses homeopáticas de convenientes aparições de um barbudo sinistro. A cada dificuldade, a cada queda de popularidade, um vídeo do camarada Bin Laden injetava insulina no organismo claudicante. Osama era cada vez menos um dirigente e executivo e cada vez mais uma figura inspiradora para os seus admiradores e, também, um bálsamo regenerador para seus supostos alvos.
Não se usa aqui o termo “camarada Bin Laden” por descuido ou veleidade retórica. Como veremos na sequência desta série, a família Bin Laden (e o próprio Osama) eram velhos sócios da dinastia Bush. O próprio Osama fizera algum sucesso como agente da inteligência americana, recrutando e treinando “combatentes da liberdade” para sabotar os russos no Afeganistão ou ajudar os americanos na Bósnia. Em algum momento, Osama parece ter entrevisto a possibilidade de estabelecer-se por conta própria. Ou não. Talvez ainda colaborasse, em ações encobertas, com a tal inteligência americana. Dadas as conhecidas aventuras de tal inteligência, esta nossa paranoia é até bem razoável.
O certo é que Bush foi criando fórmulas e lemas de grande eco. Mas, por vezes, com efeito bumerangue. Veja por exemplo o “Missão cumprida”, termo com que abre seu discurso de comemoração pela edificação da “democracia” no Afeganistão, com a eleição dos líderes tribais. Ou a famosa “Estamos criando uma sociedade de proprietários”, saudando a escalada de compra de imóveis com base em hipotecas financeirizadas. Vistas em perspectiva, as frases são quase que temas de lápides da dinastia. Ou humor negro.
A gangorra da fama tem seus movimentos implacáveis. No final do segundo mandato, quando se tratava de impulsionar um sucessor, os índices de Bush II estavam de novo no rodapé. A possibilidade de que pudesse ganhar o troféu de pior presidente da história já era forte, mesmo entre seus eleitores.

Nesse fim de feira, uma pesquisa mostrava que mais de 80% dos americanos achavam que o país tinha “andado na direção errada”. E isso se atribuía, segundo a pesquisa, a limitações pessoais do presidente, não apenas a decisões erradas do ‘sistema”. Ainda assim, o que a pesquisa não podia explicar era como Bush II tinha conseguido a façanha de ficar por oito anos no comando, como afundara o país na guerra e na dívida, como preparara o caminho para uma das mais arrasadoras crises econômicas da história do país. No ano em que encerrou seu mandato, o país estava em ruínas, quase tão visíveis como aquelas do Iraque. E tudo isso sem enfrentar oposição significativa – porque os democratas demonstravam enorme complacência para com o adversário, esperando apenas o momento de sucedê-lo. E a imprensa liberal apoiava o candidato democrata, mas preservava o “trapalhão” em fim de carreira. Ele havia feito o serviço.
O mundo ficou mais seguro sem Sadam. Blair e Bush repetiam essa fórmula, cada vez que alguém lhes fazia pergunta incômoda: tinha valido a pena? Haviam encontrado as armas químicas? Afinal, Sadam era mesmo amigo da Al Qaeda? Pouco a pouco, a confiança dos dois foi cedendo. Blair foi tragado pelo descrédito, tanto mais que Londres era açoitada por seguidas ocorrências de bombas no metrô. O outro sócio europeu, o espanhol Aznar, caiu sob o impacto de um resultado colateral da aventura, a sangrenta explosão do metrô de Madrid, com duzentos mortos e outras centenas de feridos. No Oriente Médio – a começar pelos países “libertados” – multidões preparavam as malas para migrar, fugindo da fome e da insegurança. Definitivamente, o mundo não ficara mais seguro. O nível de incerteza subira.
“Vamos combater os terroristas lá fora, assim não teremos que enfrentá-los aqui em casa”. Era outra fórmula de Bush II, outra de duvidosa utilidade. Talvez aqueles “terroristas” fossem agora mais controlados nas fronteiras e nas escolas de pilotagem. Mas as estrepolias dos nativos cresciam. Não eram apenas os velhos grupos insurgentes, as milícias armadas que recusam o governo. Há também os garotos que semanalmente abrem fogo nas cantinas escolares. E os retornados da guerra, desequilibrados e bem treinados na arte de matar. Quase impossível passar uma semana sem alguma chacina na terra de Marlboro.
Mas nem tudo foi insucesso. Bush deixou um legado que, aliás, os democratas como Hillary gostaram de herdar. E utilizaram com desenvoltura. A secretária de Estado de Obama, apaixonada pelas fardas, reformou a ação no plano externo, mas manteve três linhas essenciais: A CIA e os militares podiam assassinar “suspeitos”, inclusive cidadãos americanos. A NSA podia vigiar telefones e correios eletrônicos de quem quer que fosse, inclusive de governantes “amigos”. E o país continuaria no ramo lucrativo da “mudança de regime” em outros países, com bombas ou sem elas. Por exemplo, fomentando outros grupos de “combatentes da liberdade”, em muitas primaveras, sempre seguidas de rigorosos invernos. Como se sabe, o mundo foi ficando cada vez mais seguro, depois do despertar da Tunísia, da Libia, do Egito, da Síria, da Ucrânia...
De qualquer modo, heranças à parte, a dinastia Bush parecia ter um fim melancólico, algo que faz lembrar, sem a mesma poesia, a tragédia dos Aureliano Buendia, em Cem Anos de Solidão. O clã do Texas pode ter passado para o esquecimento. As trapalhadas de Bush II podem ter sido substituídas pelas de Trump, assim como um Harold Loyd seria substituído por um Chaplin – que Chaplin me perdoe. Do outro lado do oceano, o clã de turbantes, parceiro dos Bush, continua na parada. Voltaremos a eles no próximo capítulo.