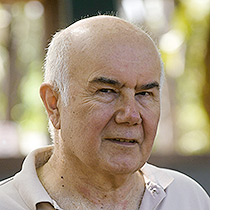O livro já tem mais de dez anos, mas o tema continua ao mesmo tempo vivo e enterrado. Em 2004, Unger Craig publicou um explosivo estudo do estranho cruzamento entre árabes e texanos: House of Bush, House of Saud: The Secret Relationship Between the World’s Two Most Powerful Dynasties (ed. Scribner).
O livro já tem mais de dez anos, mas o tema continua ao mesmo tempo vivo e enterrado. Em 2004, Unger Craig publicou um explosivo estudo do estranho cruzamento entre árabes e texanos: House of Bush, House of Saud: The Secret Relationship Between the World’s Two Most Powerful Dynasties (ed. Scribner).
Em abril de 2016, doze anos depois, uma reportagem de capa da revista The Week procurava requentar o tema:

 Mas o que parecia evidente era uma certa má vontade em revirar o lixo. Como retrata a capa do livreto de Robert Morris, uma ausência é constantemente notada, justamente porque estando ausente muito explica:
Mas o que parecia evidente era uma certa má vontade em revirar o lixo. Como retrata a capa do livreto de Robert Morris, uma ausência é constantemente notada, justamente porque estando ausente muito explica:
“Não preste atenção na Arábia Saudita”. Recentemente, durante a transmissão da Copa mundial de futebol, os locutores da TV Globo que narravam o jogo do Irã repetiam uma cantilena a cada 15 minutos. Lembravam que havia dezenas de mulheres iranianas no estádio da Rússia, mas que “no mundo da inclusão, no Irã as mulheres são proibidas de ir aos estádios”. Alguns minutos depois, transmitiam o jogo da Arábia Saudita e nenhum comentário se fazia a respeito de coisa alguma da vida naquele país, muito menos sobre suas mulheres. Lá e cá, a grande mídia repete o refrão. Somos todos americanos, incluídos e obedientes. O inferno são os outros.
Para grande parte dos políticos e da mídia norte-americana, os sauditas são quase não-árabes. São quase nós. E, no entanto, quando olhamos para a Arábia Saudita, ela encarna, rigorosamente, tudo aquilo que adjetiva os árabes na visão caricata corrente.
Assim, lembrar o 11 de Setembro excluindo os saudis parece ser um desafio e tanto. Mas o livro de Craig não se limita ao evento pontual. Ele busca rastrear décadas de entrelace de interesses. E o resultado é espantoso. Deixo ao leitor o prazer dessa leitura. Neste espaço limitado vou apanhar apenas um lance recente, deste milênio.
Minutos depois do ataque às torres de New York, o espaço aéreo americano foi fechado. Todos os aviões foram obrigados a descer no aeroporto mais próximo. E nenhum podia decolar. Porém... algo escapava a tais controles.
O embaixador saudita nos Estados Unidos, príncipe Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz, organizava a coleta de 140 compatriotas espalhados pelo país. E isso incluía, ora veja, duas famílias de pedigree – a família real, a Casa de Saud, e … os bin Laden, uma estirpe podre de rica, quase uma extensão da família real.
Os membros dos dois clãs não estavam de veraneio nos Estados Unidos. Eram profissionais ou estudantes. Muitos viviam na nobre área de Boston, centro das melhores escolas. Abdullah bin Laden, irmão mais novo de Osama, tinha concluído Direito na Harvard Law School e exercia a profissão em Cambridge, Massachusetts. Outros membros da família estudavam na Tufts University. Vários dos bin Laden estavam envolvidos em atividades culturais da região. Não fosse o sobrenome, poderiam ostentar o rótulo de bostonianos ilustres.
Por sua vez, o príncipe Bandar convivia com a fina flor da segurança americana. Jogara raquetball com o secretário de Estado, Colin Powel, ajudara em operações encobertas da CIA. Quase um primo, pois não?
Assim, o estado de exceção decretado para os cidadãos “normais” também tinha exceções, para esses nobres quase-cidadãos, muito especiais.
Fazia sentido. A Arábia Saudita é quase que um mar de petróleo controlado por meia dúzia de oligarcas, muito afáveis com as corporações e o governo americano. Um país grande, um quarto do território americano. Mas com uma população de perto de 6 milhões de habitantes, apenas um terço deles homens adultos e jovens: 4 milhões de crianças, mulheres e idosos.
O petróleo fora descoberto no final dos anos 1930 – e por bom tempo fora controlado por um consórcio gigante, a Aramco (Arabian American Oil Company).
Pensemos agora no papel quase visceral que o petróleo exerce na vida americana, algo que mostramos aqui no Jornal da Unicamp [https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/reginaldo-correa-de-moraes/terror-na-bomba-de-gasolina-um-filme-esperando-remake ].
O volume do óleo importado pelos Estados Unidos quase dobrara entre 1970 e 1973, a data do primeiro choque do petróleo. A participação da Arábia Saudita na exportação mundial pulara de 13% em 1970 para 21% em 1972. Bem, ao lado disso, lembremos, a dinastia Bush ama o petróleo e celebra contratos após contratos com as casas de Saud e Laden.
Sim, os sauditas tinham que ter tratamento muito especial. Mas esses números não constituíam o único motivo da maratona aérea. O esporte de “esfola o árabe” iria começar – e os nobres turbantes tinham que ser colocados fora da linha de tiro.
O episódio da fuga foi abafado durante um tempo. Mas um dia, claro, iria vazar. E contribuiria para alimentar todas as novas versões conspiratórias sobre o ataque. Ainda assim, como diz o título do livro acima, na maior parte das vezes, a Arábia Saudita é aquilo de que não se deve falar. Os “nossos árabes”, são quase não-árabes, de tão ricos. Cooperativos. Amigos. Maometanos quase judeus, de tão afáveis com Israel. Já é quase uma lenda que bin Laden vinha daquelas plagas. Vai ver nasceu em Irajá.