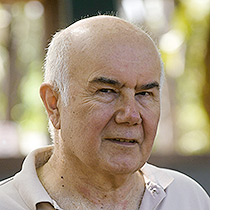Atribui-se a William James esta frase preciosa: "Muita gente pensa que está pensando, quando na verdade está apenas reorganizando seus preconceitos". A frase talvez nos ajude a entender a função essencial dos grandes meios de comunicação, conservadores pela sua própria lógica: a cada choque da realidade, eles procuram reorganizar os preconceitos de seus seguidores, para que sigam sendo aquilo que são. Hegel dizia que a leitura dos jornais era sua oração matinal. Para o grande público, o jornal ou o telejornal estão mais próximos de outro ato religioso – o culto reconfortante, certificador de suas crenças.
Atribui-se a William James esta frase preciosa: "Muita gente pensa que está pensando, quando na verdade está apenas reorganizando seus preconceitos". A frase talvez nos ajude a entender a função essencial dos grandes meios de comunicação, conservadores pela sua própria lógica: a cada choque da realidade, eles procuram reorganizar os preconceitos de seus seguidores, para que sigam sendo aquilo que são. Hegel dizia que a leitura dos jornais era sua oração matinal. Para o grande público, o jornal ou o telejornal estão mais próximos de outro ato religioso – o culto reconfortante, certificador de suas crenças.
Ainda há quem se espante com o fato de ver surgir diante de si, diariamente, uma tempestade de realidades paralelas, produzidas por essa mídia. Realidade paralela. Uma vez, Caetano Veloso, tropicalista e psicodélico, mas nada delirante, disse uma cândida verdade: “Não vejo o Jornal Nacional para saber o que acontece, mas para saber o que eles querem que eu pense que acontece”.
A grande mídia é fortemente inclinada para opiniões conservadoras – e cada vez mais. Contudo, por vezes o rastilho vai um pouco além disso. Em muitas ocasiões – e estamos em uma delas– essa mídia opera, deliberadamente ou não, como um instrumento de coesão, de costura de movimentos obscurantistas, transformando expectadores em ativistas e, depois, convertendo esses ativistas em uma base de opinião disponível para a aventura que sairá da cartola. A mídia “unifica o discurso”, afina a orquestra, fortalece os laços de identidade. Eles estão garantindo a “estabilidade mental” de suas ovelhas, diante de tantos ziguezagues. A identidade do pastor se vê depois. Pode ser um fake extravagante, uma celebridade televisiva transformada em guru ou uma farda desbotada e histérica. Cada um desses modelitos trafega pelas nossas telas hoje em dia.
Em 1975, o comentarista político Kevin Phillips publicou o livro Mediacracy: American Parties and Politics in the Communications Age, uma análise das redes nacionais de comunicação americanas. Kevin vivia dentro do circo político – fora assessor do partido republicano antes de se transformar em “comentarista independente”. No livro ele afirma que as cadeias nacionais estavam suplantando o papel das velhas oligarquias, dos homens de negócios conservadores, dos barões das redes regionais. As redes nacionais se transformavam nos árbitros do poder político. Suplantavam, também, claro, os partidos. Lembro que ele está falando de Estados Unidos, 1975. Isso sugere alguma coisa?
Os desencontros da mídia evoluíram – ou seja, mudaram rapidamente. Mas ela não deu conta de encontrar o tal farol unificador, o pastor das almas que cultivou. Por vezes, surpreende-se com a revelação de um messias que não era o anunciado. Quanto Donald Trump surgiu, um chefão do NY Times disse que iriam fazer a cobertura de sua campanha na seção de entretenimento ou algo assim. A verdade é que já faziam isso. E Trump compreendeu a regra do jogo, com uma dose de cinismo que espanta e desconcerta. Todos sabemos que Bush também cultivava um estilo tosco e bruto, mas era cercado de cuidadoras e enfermeiros que consertavam o estrago – Condolezza e Colin Powel surgiam dos bastidores pra “explicar” os arroubos do chefe. Trump não tem freios – ou melhor, seus freios operam como aceleradores. E a mídia, até mesmo a ultraconservadora, perdeu o monopólio na produção da “pós-verdade”. Trump estabelece a pauta da mídia – ou a transforma em biruta de aeroporto – pelo tweeter.
Faz quase vinte anos, Murrrai Kempton postou um comentário certeiro no New York Review of Books (14/2/1991): "A politica externa dos EUA algumas vezes parece inspirada nas regras da liga de beisebol: na American League temos o batedor selecionado; e nosso governo inventou o inimigo selecionado, que é o temporário mas sempre exclusivo foco de sua indignaçäo moral. A delegação líbia na ONU desfruta da paz de nossas ruas, Daniel Ortega é um turista bem vindo, e nossos jornalistas jantam amigavelmente com o embaixador iraniano. O que são hoje os monstros de ontem, a não ser trastes esquecidos nos porões de uma América que só pode pensar em um monstro de cada vez?"
Lemos essa passagem e percebemos que temos que trocar, de novo, todos os nomes próprios, para que a frase faça sentido, nos dias atuais, ou pelo menos nesta semana. Ou melhor, para que ela se pareça com aquilo que chamamos de realidade.
Trump é um sintoma de algo bem pior do que ele. E um ativador desse mal. Só agora, talvez, se perceba que Trump poderia ser, em escala ampliada, aquele atirador que disparou contra centenas de pessoas em.... Ele é o tipo que poderia fazer isso – e talvez esteja planejando algo do tipo, em escala ainda mais ampliada, planetária.
O que não se percebe é que todo esse mundo de horrores e incertezas torna-se mais fácil porque a “realidade” das discordâncias que aparecem na mídia (e dela com Trump) é, apenas, a discordância sobre as superfícies. O subsolo segue intacto. Eles “estão juntos”.
Sublinho essa ideia: há um subsolo comum, sob algumas discordâncias por vezes cortantes, mas um tanto epidérmicas. Trump é o detalhe, como o gol na frase do Parreira – o que temos que fazer é “ler o jogo”.
Vou citar um outro exemplo dessa confluência das confusões – agora não com Trump, tipo acabado da pós-verdade. Mas com aquele que, a julgar pela imprensa liberal americana, parecia ter trazido algum bom senso ao circo. Explico...
Em 2013, os jornais americanos reproduziram uma comovida declaração de Barack Obama (mais uma...):
“Nós somos fiéis a nossas crenças quando uma menina nascida na pobreza mais tenebrosa sabe que ela tem a mesma chance de ter sucesso como qualquer pessoa, porque ela é uma americana; ela é livre, e ela é igual, não apenas diante de Deus, mas também diante de nós.”
Uma colunista do The Nation contestou Obama com bons argumentos e dados: esse fenômeno de fato não ocorria. Ou seja: uma garota pobre não tinha essa tal chance, não era livre nem igual às outras. E ela estava certa. Em seguida, The Atlantic bateu na mesma tecla. E mais outro, e mais outro. Ou seja, as evidências se amontoavam para mostrar que aquilo NÂO ocorria no país real, apenas no país da “crença”. Ou desses crentes.
Está certo, gente, nada de novo. Mas talvez o mais interessante não seja dizer que Obama é utópico ou que não enxerga o que está diante do seu nariz. Que edulcora o “sono americano”. Obama diz que a garota consegue “subir”, os críticos dizem que não, que ela não se chama Conceição. Mas debaixo do que ambos dizem há uma coisa não dita e mais importante.
O mais interessante e não comentado por essa mídia é outra coisa: Obama disse algo sem dizer e, aparentemente, sem querer dizer. E a mídia não ouviu essa mensagem porque vive dentro da mesma bolha.
O que Obama disse de tão grave? Vejam aquilo que está implícito na frase: no centro do império, no país que tem tecnologia para construir ou destruir o mundo, que acumula riqueza como nunca na história da humanidade, nesse país da glória há garotinhas que vivem na mais tenebrosa pobreza. Não apenas ela: as garotinhas e suas famílias, por suposto. Não estamos falando da Etiópia, da Somália, da Etiópia, tragédias com as quais a humanidade se conforma faz tempo. Nem do Iraque, que os americanos “reconstroem” faz 14 anos. Estamos falando da “América”, do país rico que disputa campeonato de pobreza infantil.
Não foi esse elemento que a imprensa destacou. Mas é isso que estampou, para bons leitores: a declaração e suas críticas exibem uma confissão de derrota. Ou a confissão de um crime.
A confissão segue silente. Obama candidato dizia que o importante não era sair do Iraque, mas sair de um estado mental que produz Iraques. Não será com o info-entretenimento dominante que se conseguirá tal proeza.