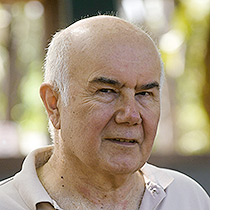No meio dos anos 1970, o Brasil era apontado como uma das cinco maiores economias industriais do mundo capitalista. E, de fato, as metrópoles eram povoadas de corredores industriais, galpões fumegantes, uma classe operária aparentemente madura e treinada, integrada ao sistema.
No meio dos anos 1970, o Brasil era apontado como uma das cinco maiores economias industriais do mundo capitalista. E, de fato, as metrópoles eram povoadas de corredores industriais, galpões fumegantes, uma classe operária aparentemente madura e treinada, integrada ao sistema.
No entanto, o subterrâneo daquela sociedade era marcado por um tumulto, uma tremenda fragilidade. Havia muita areia movediça sob o cimento que parecia sólido.
Os pés de barro não estavam apenas no que se chama de esfera econômica. Ali também. Afinal, o país que já ousava construir um avançado setor de bens de capital era, porém, dependente de uma infraestrutura movida à dívida. E a fornalha era alimentada por petróleo importado, com preço em escalada ascendente. Essas duas variáveis iriam cobrar a conta no final da década. Em 1973, no primeiro choque da Opep, o barril passava de 3 dólares para 35. E haveria um segundo salto em 1979. A esses saltos se somava um assalto. Em 1979 o banco central americano (FED) puxava a taxa de juros de 6% para 20%. Os contratos de dívida brasileiros tinham sido assinados com juros flutuantes, os juros das praças de Londres e New York. Dá para imaginar o resultado.
Mas havia um outro campo em transe, menos visível para quem observa o mundo de sobrevoo. Mas muito sensível para aqueles que acompanhavam a vida cotidiana das massas trabalhadoras. Havia, sob a aparente estruturação daquela sociedade moderna e brilhante, um mundo em ebulição, precário, incerto, angustiado.
Sob a ditadura, o Brasil atravessara seu segundo ciclo de industrialização acelerada e seu segundo ciclo de urbanização. Milhões de brasileiros marcharam para as regiões metropolitanas – sobretudo no Sudeste – tornando-se citadinos sem virar cidadãos. Amontoavam-se em morros e bairros improvisados, onde tudo era provisório-definitivo. Ruas sem calçamento e sem redes de agua e esgoto, sem escolas nem postos de saúde, com frágeis postes de luz, transportes desumanos.
As famílias migrantes não mudavam apenas de cidade, em certo sentido mudavam de século. E mudavam de estruturas e hábitos. Entre 1970 e 1980 dobrou o número de membros da família integrados ao “trabalho fora de casa”. Mais suor fornecido aos acumuladores de mais-valia, mais salários para comprar alguns poucos móveis e eletrodomésticos. Menos tempo para cuidar das crianças, claro. Mais motivos para encrenca ao final do dia, quando os ânimos se destemperam, inflados pela vida cachorra.
São Paulo era uma cidade assim, quando florescia e se transformava na “metrópole quaternária” da América Latina, o coração dos bancos e das grandes corporações. Mas não era apenas São Paulo. E não seria apenas naquela década. Apenas talvez nos lembremos menos daquilo, porque sempre nos impressiona mais o que está diante de nós, não aquilo que está debaixo, no subterrâneo que nos gerou.
Ainda no período 1960-70, por exemplo, a Grande S. Paulo, já enorme, recebia um rio de gente – perto de 3,5 milhões de novos habitantes. A maioria deles (2,1 milhões) eram migrantes. Como se naquela década tivessem sido "transferidas" para a RMSP a população das regiões metropolitanas de Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e mais as cidades de Aracaju e Maceió.
Entre 1960 e 1970, 84% do incremento da população paulistana ocorreu na periferia da cidade. Entre 1970 e 1980, 86% do crescimento ainda se verificou nos subdistritos mais distantes. Entre 1980 e 1987, contudo, essa taxa parecia estar baixando irreversivelmente, aproximando-se dos 69%, o que indicaria sensível reversão, com um crescimento maior da área central, marcada pelo encortiçamento e pela verticalização. E os municípios periféricos cresceriam mais ainda do que a capital: representavam 15% da população em 1940, chegam aos 33% da RMSP em 1980.
O crescimento das cidades vizinhas transformou algumas delas em cinturões industriais ou aldeias-dormitórios, viveiros de mão de obra para os dinâmicos setores industriais e de serviços. Observe-se, nesse sentido, a tabela 1, a seguir reproduzida.

Sob esse impacto, a capital entra na última década do milênio "abrigando" quase um milhão de pessoas em favelas, 2,5 milhões em cortiços e 2,5 milhões em casas precárias dos bairros periféricos.
O drama dos que chegavam era o subsolo instável, explosivo, daquele maravilhoso país moderno que aparecia no diário oficial da Ditadura, a TV do plim-plim. E sem políticas públicas estruturadas para recebê-los, os migrantes dependiam daquilo que um historiador francês chamou de “estruturas informais de acolhimento”. Os redutos em que se formava e reformava a cultura que traziam no pau-de-arara. O historiador Paulo Fontes um dia mostrou como São Miguel era Um Nordeste em São Paulo. Mas havia manchas de todo tipo na grande metrópole. Na feira de domingo no Jardim Pirajussara, onde se vendia literalmente de tudo, havia sempre um ou outro grupo de música sertaneja (de verdade), dois violões, uma voz solo, a outra uma terça abaixo. No Capão Redondo, no Grajaú, outras misturas. Ao longo das calçadas da Avenida Mateo Bei, na zona leste, carne de sol, sandália de couro, roupas coloridas, um grupo com zabumba, triângulo e acordeon de sete baixos.
Em cada um desses acampamentos apelidados de “Jardins”, um galpão improvisado fazia as vezes de igreja e centro social, com clubes de mães, grupos de jovens, pastoral operária, as comunidades eclesiais. “Aos pés de muitas igrejas, lá você vai encontrar...”. Você pode ouvir esse lamento: https://www.letras.mus.br/geraldo-vandre/1466893/
Era assim que a metrópole recebia aqueles que a construíam. A frase de um economista da época, crua e dura, retratava a lógica: o país pagaria a dívida transformando em dólares o sangue dos “baianos”. E era com essa cultura reinventada que eles se preparavam para vivê-la. E, quem sabe, mudá-la para algo menos selvagem.
BOX
As calamidades da grande transformação
".. uma calamidade social é basicamente um fenômeno cultural e não um fenômeno econômico que pode ser medido por cifras de rendimentos ou estatísticas populacionais.(...) a Revolução Industrial - um terremoto econômico que em menos de meio século transformou grandes massas de habitantes do campo inglês de gente estabelecida em migrantes ineptos. Todavia, se desmoronamentos destrutivos como esses são excepcionais na história das classes, eles são uma ocorrência comum na esfera dos contatos culturais entre povos de raças diferentes. Intrinsecamente, as condições são as mesmas. A diferença está principalmente no fato de que uma classe social é parte de uma sociedade que habita a mesma área geográfica, enquanto o contato cultural ocorre geralmente entre sociedades estabelecidas em diferentes regiões geográficas. Em ambos os casos o contato pode ter um efeito devastador sobre a parte mais fraca. A causa da degradação não é portanto a exploração econômica, como se presume muitas vezes, mas a desintegração do ambiente cultural da vítima. O processo econômico pode naturalmente fornecer o veículo da destruição, e quase invariavelmente a inferioridade econômica fará o mais fraco se render, mas a causa imediata da sua ruína não é essa razão econômica – ela está no ferimento letal infligido às instituições nas quais a sua existência social está inserida. O resultado é a perda do auto-respeito e dos padrões, seja a unidade um povo ou uma classe, quer o processo resulte do assim chamado "conflito cultural" ou de uma mudança na posição de uma classe dentro dos limites de uma sociedade" (Karl Polanyi, A grande transformação)