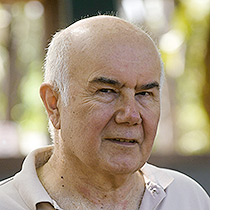A história política norte-americana cruza com a religião a todo momento. Desde a fundação das treze colônias. Mas a mitologia da nação cristã é também o fruto de um cuidadoso trabalho de imaginação e propaganda.
A história política norte-americana cruza com a religião a todo momento. Desde a fundação das treze colônias. Mas a mitologia da nação cristã é também o fruto de um cuidadoso trabalho de imaginação e propaganda.
O melhor roteiro para começar a entender essa trajetória talvez seja o livro de Kevin M. Cruse - One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America, Basic Books; 2016. Pelo menos se não quisermos recuar muito no tempo, apanhando o ponto crucial dos anos 30, logo depois da Grande Depressão.
Kevin insiste na ideia de que, a partir desse momento-chave, a nação cristã foi cuidadosamente engendrada como uma espécie de reação de grandes empresários contra o New Deal de Roosevelt, suas reformas econômicas, suas leis reguladoras e políticas sociais. Roosevelt, para muitos deles, ultra-conservadores, era uma espécie de antessala do socialismo, da invasão do Estado sobre a liberdade econômica.
Alguns desses magnatas, eles próprios vinculados a igrejas, sondaram, localizaram e recrutaram ativistas religiosos para lançar campanhas com lemas como “liberdade sob a ordem de Deus”.
Franklin Delano Roosevelt era o oposto disso tudo. O seu New Deal era uma resposta intervencionista à crise do liberalismo econômico. Uma espécie de keynesianismo e sócial-democracia à americana. Os “liberais”, na América do Norte, passavam a ser identificados com os reformistas europeus.
Intervenção governamental nos negócios privados, regulação dos bancos, da indústria, do comércio, leis trabalhistas, políticas de obras públicas, de apoio aos camponeses, etc. Os empresários mais conservadores rangem os dentes diante do “coletivismo” de FDR. A “intuição de classe” dos empresários era compartilhada por muitos pastores protestantes. E os homens da grana resolvem investir no desenvolvimento, sistematização e propagação desse discurso religioso, aproximando-o ainda mais do discurso político, de classe, deles próprios. O capitalismo teria que ser visto como uma encarnação do cristianismo. E cristianismo como a sublimação espiritual do capitalismo, a realização da Glória de Deus.
Recursos foram mobilizados para identificar os pastores “bons” em todo o país, estimulando a formação de redes, patrocinando publicações, promovendo eventos e campanhas e rituais.
A missão era desenvolver e propagar a doutrina. Mas, também, implantar rituais, modelar comportamentos e práticas cotidianas. Para isso, a primeira medida era fazer com que o rebanho frequentasse os estábulos, ou melhor, os templos.
Uma grande campanha foi encomendada à maior agência publicitária do mundo, a J. Walter Thompson, já treinada na disseminação de hábitos de consumo. O consumo de Cristo e o cristo-entretenimento teriam que ser estimulados – e para isso se deveria fomentar o comparecimento periódico ao supermercado do espírito, a igreja. Na base do “encontre você mesmo através da fé”, a campanha levava todo mundo para os templos, que passavam a oferecer uma grande variedade de atrações.
O culto semanal, primeiro, os grandes eventos de massa, em seguida. As campanhas – foi mais de uma – tiveram sucesso. A participação no culto semanal cresceu – passa de uns 20% dos cidadãos, nos anos 1920, para perto de 70% lá por 1960.
Os empresários também eram o elo entre as lideranças religiosas e as lideranças políticas, em todos os poderes e em todos os níveis (local, estadual, federal).
Com o tempo, esse movimento religioso se transforma, deliberadamente, planejadamente, numa espécie de religião civil, um “americanismo” todo especial, em oposição ao comunismo “soviético” e a sua versão sorrateira interna, o “coletivismo” ou “estatismo” do New Deal.
O investimento dos empresários foi ativo – não se tratava apenas de fornecer o caixa. Na verdade, muitos deles eram parte integrante da rede religiosa. Participavam dos eventos, discutiam sua organização, ativavam mais recrutamentos através de seus grupos de classe, conectavam com os políticos. E ligavam o mundo dos pastores, também, com o mundo da mídia – no começo, do rádio e dos jornais e revistas. Mais tarde, da TV. Já nos anos 1950, o programa de Billy Graham, Hour of Decision, era transmitido por três grandes cadeias, um total de 850 estações. Estimava-se que atingia 20 milhões de telespectadores.
E há o cinema, claro. Lá nos anos 20, Trotsky se entusiasmara com o cinema e disse que ele era uma ferramenta fundamental para disputar a mente e o coração dos operários, tirando-os dos concorrentes, a vodka e a igreja. Mas... esta última percebeu que poderia fazer uso da ferramenta.
Hollywood participou ativamente das grandes manifestações da direita religiosa, de suas campanhas – James Stewart, John Wayne, Bing Crosby, Disney, Rock Hudson, Gregory Peck. E Cecil B. de Mille, é claro. No intervalo do whisky e da cocaína, as celebridades da tela embarcavam no velho ópio do povo.
A lista de filmes com certeza é conhecida do público brasileiro: Sansão e Dalila (1949), David e Betsabá (1951), Quo Vadis? (1951), Os Dez Mandamentos (1956), Ben-Hur (1959), Salomão e a Rainha de Sabá (1959), A História de Ruth (1960).
O movimento gerou numa espécie de religião civil, de fé pública, patriótica, através de campanhas para a implantação de símbolos e rituais. Por exemplo, a campanha pela introdução da frase “país livre sob Deus” – o “under god” virou slogan oficial sob Eisenhower. Em 1953, Eisenhower declarou formalmente que designaria o 4 de julho (independência) como Dia Nacional da Oração. E em junho de 1954, no dia da bandeira, ele assinou a lei. A oração nas escolas virava prática corrente. Dizia o general batista:
“Deste dia em diante, milhões de nossas crianças nas escolas proclamarão diariamente, em cada cidade e aldeia, em todas as vilas e escolas rurais, a dedicação de nossa nação e nosso povo ao Todo Poderoso”.
O “in god we trust” também foi incorporado nas notas de dólar em 1956. Finalmente, deus chegava ao mercado (ou vice-versa) – a principal ferramenta dos negócios, a moeda, tinha a marca da obediência à palavra do Senhor.
Ike Eisenhower, em 1952, talvez tenha sido a primeira grande conquista política do movimento. Um presidente alinhado e cultivado por essa corrente organizada, abrindo um novo capítulo na relação igrejas-governo. Ele era batista, mas muito discreto. Foi “rebatizado” em plena Casa Branca, pelo jovem e brilhante pastor Billy Graham.
A partir de Eisenhower, os cultos regulares (inclusive os tais breakfasts de oração) viram rotina no governo, no Pentágono, nas casas legislativas do país, inclusive no Congresso Nacional. E a cristianização dos americanos se massificou.
É difícil avaliar o grau de “cristianização” da população americana. Ou, pelo menos, de seus vínculos ativos com as igrejas. Estima-se que os “praticantes” fossem algo como 16% dos americanos no meio do século XIX e o dobro no final. Nas primeiras décadas, alguns acreditam que girasse em torno dos 40%, subindo, em seguida. No período do pós-guerra teria atingido 57% em 1950 e 69% em 1960.
Mais do que o número, porém, era a consistência da “militância” que se tornaria impressionante. Em toda ocasião, os líderes religiosos faziam questão de mostrar que não estavam para brincadeira.
A conclusão de Kevin Kruse é clara: “Esta história nos lembra que nossa religião pública é, em larga medida, uma invenção da era moderna.” A semeadura fora bem-sucedida.