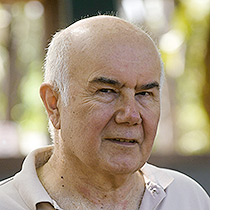Assim que Donald Trump venceu as eleições, a mídia começou a multiplicar interpretações apressadas, sacramentando que havia ocorrido algum tipo de terremoto na cena política americana, um tsunami eleitoral ultraconservador.
Assim que Donald Trump venceu as eleições, a mídia começou a multiplicar interpretações apressadas, sacramentando que havia ocorrido algum tipo de terremoto na cena política americana, um tsunami eleitoral ultraconservador.
Pelo jeito, essa mídia acordava de uma espécie de auto-hipnose. Esse despertar tem uma equivalente e quase simétrica dimensão de autoengano. Tanto acreditaram e quiseram fazer acreditar que se teria “mais do mesmo” com a “invencível” Hillary, que despencaram assim que negada a expectativa.
Vou mencionar aqui apenas alguns dos mitos e imprecisões que rodearam as avaliações da vitória de Trump. Entre eles alguns se destacam:
- Houve uma revolução conservadora e uma inesperada e inédita enxurrada de votos na direita republicana
- Em especial, a chamada White working class pulou da esquerda democrata para a ultradireita trumpista
- Steve Bannon e seus miquinhos informáticos fizeram mágica e inventaram um novo espaço de sentimentos e ideias inflamadamente populistas, determinando a vitória do empresário bufão.
Em troca, desde logo, algumas questões ficaram submersas ou apenas ligeiramente tocadas nessas análises “a quente”. Por exemplo:
- O papel das técnicas de moldagem das percepções cuidadosamente operadas pelos neoconservadores faz algum tempo. A técnica de conquistar as mentes e corações através de sinais codificados e diversionistas, que legitimam politicas inequalitárias através do apelo a temas voltados para o racismo, o sexismo, a chamada “política dos valores”.
- O lento e sólido trabalho das igrejas pentecostais e de sua mídia na modelagem do senso comum. Faz algum tempo essas igrejas têm desenvolvido uma educação “semi-presencial” muito eficiente, combinando o culto semanal com as emissões de rádio e TV. E nos anos 2000 se construiu uma espécie de igreja leiga neoconservadora, a Fox News, relevante para essa remodelagem da agenda sentimental e ideológica do país. Uma das vantagens dos evangélicos, disse um escritor democrata, é que eles têm lugares usuais para se reunir dois dias antes das eleições.
- O Absenteísmo focalizado em segmentos tendencialmente democratas ou “de esquerda”: jovens, minorias, pobres. Aliás, nos últimos dez anos, uma das preocupações da ultradireita era precisamente forçar essa abstenção, inclusive cassando de todas as formas o direito de voto de segmentos tidos como “inconvenientes” ou inclinados para o partido democrata.
- O redesenho dos distritos para modelar o colégio eleitoral – conhecido como Gerrymandering. De longe, os republicanos estão à frente dos democratas no domínio dessas técnicas, conseguindo interferir fortemente na composição dos legislativos e executivos estaduais, do congresso nacional e do colégio eleitoral que escolhe o presidente. Um exemplo (surpreendente) dos efeitos dessa técnica está neste vídeo: https://www.nytimes.com/video/us/100000005921047/gerrymandering-history-future.html
Muitos serão os chamados, mas poucos serão os eleitores
A primeira coisa que precisamos perguntar aos dados existentes é isto: quem votou mais e quem se absteve mais? Em geral, os níveis de abstenção nas eleições americanas são usualmente altos, mas não afetam igualmente todos os segmentos de renda, raça ou etnia. No nível presidencial, regularmente uns 40% simplesmente desistem de votar. Nos outros níveis, mais ainda. Nas eleições locais é comum ter apenas uns 20% ou 30% de participação, mais de 70% de abstenção.
O que os dados parecem indicar, com clareza, é que aqueles que mais se abstêm são, precisamente, aqueles que, em sua própria defesa, menos deveriam fazê-lo, os pobres, os jovens, as minorias étnicas. Ora, olhando os dados desta eleição (que parecem repetir os anteriores), os segmentos de renda superior são super-representados nos votantes efetivos. Aparentemente, os pobres são os que mais desistem antes de tentar. Devem ter razões para isso, não? Por conta desta tendência, os dois candidatos extraem parte desproporcional de seu voto dos chamados “bem de vida”, não dos desgraçados e remediados.
Aqui vale repetir: importante saber não apenas o perfil de quem vota em geral, de quem vota em cada candidato, em especifico. É preciso saber também quem não vota e quem desiste de votar em circunstâncias especiais.
Uma pesquisa do Pew Research, fartamente repercutida na mídia, mostra algo assim: “Quem mais ajudou a eleger Trump em 2016? Os não-votantes”. Fatal.
A pesquisa mostra que os não votantes mais prováveis são os mais jovens, menos educados, menos ricos e não brancos. O perfil dentro do qual o Partido Democrata tem massacrante predomínio. Mais, muito mais, do que ir à urna e marcar o nome de Donald Trump, naqueles estados do Rust Belt que determinaram a derrota de Hillary, uma porção de eleitores simplesmente desistiu de votar no PD, como fizera nas eleições anteriores.
Qual working class?
Vejamos agora o tema da conversão da classe trabalhadora ao credo conservador. A estrutura padrão do argumento é este que segue. O coração da indústria, o Manufacture Belt, transformou-se no Rust Belt (cinturão da ferrugem). Daí, na trilha dessa destruição de empregos e comunidades, teria ocorrido uma gigantesca defecção de trabalhadores blue-collar, raivosos, saindo de seu tradicional voto no Partido Democrata e depositando-o em Trump. Teria sido um tapa na cara da elite “liberal” globalista, cheirosa e cosmopolita. O argumento tem vários elementos de verdade – como a destruição e a criação de um clima de desesperança, por exemplo. Mas, veremos a seguir, o argumento tem falhas na conclusão e nos dados de base.
A segunda questão é precisar, tanto quanto possível, o que se chama de white working class – até para saber em que medida é working e em que medida é branca. Um dos indicadores comumente usados é a educação – a working class não tem diploma de nível superior (college). O outro é a renda (recebe a média ou abaixo da média nacional).
Ora, há milhões de americanos que não têm diploma superior e, contudo, dificilmente seriam arrolados na working class. Por exemplo, há nada menos que 17 milhões de proprietários de pequenos-negócios que não têm esse diploma. Em 2016, Um survey da National Small Business Association mostra que 86% desses pequenos empreendedores são brancos e 92% votam regularmente em eleições nacionais. São quase que um eleitorado permanente, de baixíssima abstenção. Seus ganhos anuais giravam em torno de US 112 mil, comparado com os U$48 mil da média americana.
Um articulista sugere o seguinte cálculo: some esses empreenderes com suas recatadas e obedientes esposas. Essa pequena burguesia clássica poderia facilmente responder pelos 29 milhões de votos de “portadores de diploma” que votaram em Trump. Não precisa do público de macacão.
De outro lado, é difícil sustentar que uma classe trabalhadora outrora de esquerda (ou pelo menos meio-esquerda) de repente, não mais que de repente, guinou para o garanhão da ultradireita. Afinal, há várias décadas algo como 40% de sindicalizados e suas famílias votam no partido republicano e não no PD que seus sindicatos apoiam. Houve deslocamento desse tipo? Sim, aparentemente em algumas regiões houve algum. Mas houve um outro deslocamento, muito mais significativo: uma desistência de votar nos democratas ou, mais exatamente, em Hillary, por razões que tentamos sondar mais adiante.
A campanha certa, nos lugares certos
Daí fica menos difícil entender como Trump venceu. Desde que entendamos o essencial: o quê, afinal, ele disputou e ganhou? Porque essa é a pergunta certa.
Trump definitivamente não estava atrás do voto popular. Claramente desistiu de fazer campanha de verdade em alguns lugares – tanto faz perder de 70 a 30 e não de 60 a 40 na Califórnia, deve ter pensado. Qualquer que seja esse resultado, todos os delegados seriam de Hillary. Trump focalizou onde devia. Utilizando diferentes tipos de “big data”, entre eles os famosos arquivos da Cambridge Analytica, dividiu o potencial eleitorado em cerca de 30 tipos, para os quais endereçava mensagens estilizadas. E apostou nos estados certos, aqueles em que havia chance de conquistar delegados para o colégio eleitoral.
Até mesmo para se valorizar, o chefe da campanha digital de Trump, Brad Parscale detalhou os procedimentos. De fato, a utilização de uma plataforma como o Facebook era mina de ouro, não apenas porque “chegava” a muita gente, mas, também porque cada “click” do leitor propiciava mais informação para o emissor. E assim a equipe poderia fazer experimentos publicitários massivos e cada vez mais “personalizados”. Podia “customizar” o candidato conforme o perfil do freguês. Uma pesquisa mais eficiente do que qualquer survey convencional, mais rápida, barata, produzida com a autorização e, mesmo, a participação do “entrevistado”. Parscale estima que chegou a manipular uns 200 milhões de perfis, com 5 mil dados por perfil.
E assim, graças a essa tecnologia e, também, a coisas simples e mais ou menos convencionais, como o redesenho dos distritos, a vitória foi-se definindo sem que Hillary e a mídia percebessem. Hillary ganhou de Trump no total de votos – 66 a 63 milhões. Mas perdeu no número de delegados para o colégio eleitoral, que é o que conta. Mais: perdeu os delegados de 4 Estados decisivos da antiga base industrial – Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin. Se tivesse em cada um deles uns 25 mil votos a mais, teria ganho a eleição. Esses votos não foram para Trump – ele basicamente repetiu a performance de Mitt Romney, quatro anos antes. Foram para o nada. Para o “tanto faz”. Porque nisso, também, a campanha de Trump fez “a coisa certa”. Seus estrategistas devem ter pensado: “Se é mais difícil ganhar votantes para ele, tentemos desmoralizar os potenciais votantes dela”.
Também vale a pena ver onde estavam os “três milhões de votos a mais” de Hillary Clinton. Metade deles está concentrada na cidade de New York! E boa parte do resto na Califórnia. Nesses lugares, Hillary teve uma vitória massacrante... mas redundante, inútil.
Assim, de fato, o declínio nos empregos de boa qualidade, vinculados à indústria, o enfraquecimento dos sindicatos, a criação de mais empregos ruins e alienantes, a redução das transferências fiscais para as cidades, criaram não apenas os “brancos enraivecidos”, mas enraivecidos brancos, negros latinos e asiáticos, homens e mulheres. Eles tinham alguma razão para não ver os democratas como seus representantes. E os e-mails e conversas de Hillary, vazadas nas vésperas das eleições, apenas deram combustível a essa fogueira pré-existente.
Tudo isso parece corroborar o comentário de Olga Khazan, em artigo para The Atlantic, agora em 2018, comentando pesquisas acadêmicas sobre o fato. Ela diz:
“As pessoas votaram em Trump porque estavam apreensivas, não porque estivessem pobres. Um novo estudo descobriu que os eleitores de Trump não estavam perdendo renda ou empregos. Em vez disso, eles estavam preocupados com o seu lugar no mundo... Os apoiadores de Trump se sentiram ameaçados, frustrados e marginalizados — não no plano econômico, mas em um nível existencial".
Alguns lembram da frase do assessor de Clinton: é a economia, estúpido! Sim, a economia provoca situações dramáticas, mas elas não se revelam, necessariamente, como “econômicas” nos seus efeitos.
A força das condições materiais... e das expectativas
Recentemente, em seminário na Índia, Hillary fez uma palestra em que afirmou algo assim:
"A parte dos Estados Unidos em que eu venci representa partes do país que estão prosperando economicamente. Ganhei nos lugares que representam dois terços do produto interno bruto da América. Então, venci nos lugares que são otimistas, diversificados, dinâmicos, que olham para a frente. E a outra campanha inteira – “Make America Great Again” - estava olhando para trás.”
Não é exatamente falso. O problema é que os “deploráveis” seguem existindo, um país não é feito apenas das partes que avançam e enriquecem. Mas inclui – e principalmente exclui – aqueles que ficam para trás. Até porque muitas dos que avançam o fazem à custa daqueles que ficam para trás. Não apenas porque “são melhores” ou mais dinâmicas – talvez sejam mais “smarts”, em algum sentido. Mas, também, porque a matriz da política econômica as faz sair na frente.
Hillary e os democratas talvez tivessem uma chance de reverter esse quadro. Alguns analistas sugerem que Sanders teria mais chance ainda, porque encarnava melhor a ideia de “estado como solução”. Pode ser. Hillary estava demasiado comprometida com os efeitos perversos da política econômica que estimula globalização e financeirização.
Na véspera das eleições vazaram alguns correios e falas de Hillary mostrando sua predileção por essas áreas (principalmente pelos bancos) e o cinismo de suas declarações públicas. O retrato não era bonito. Aí apareciam frases comprometedoras que diziam algo mais ou menos assim: “senhores banqueiros, vou bater em vocês em público e trabalhar por vocês no gabinete”. Não podia ser mais desastroso – e foi habilmente utilizado pelos comunicadores da outra campanha.
Numa eleição disputada, esses sinais foram talentosamente manufaturados pela tecnologia de Bannon e similares, com uma técnica já famosa, depois de Brexit, Trump e Bolsonaro. Há um vídeo muito didático explicando seu funcionamento: https://vimeo.com/295576715.
A eficiente operação comunicacional e informática de Bannon e seus miquinhos amestrados colocou a pá de cal numa candidatura que se construiu forte dentro da burocracia democrata e dos financiadores de campanha, mas à custa da soberba e do desprezo pela alma dos democratas de macacão. Mas a pá de cal só faz sentido se a morte foi produzida, passo a passo, metro a metro, durante um bom tempo.