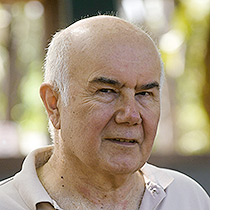Esta crônica volta a um passado estranho, aquele em que, de repente, não mais do que repente, o país mais próspero do mundo se viu diante da possibilidade de ter casas geladas no inverno ou sufocantes no verão, automóveis parados por falta de combustível, fábricas sem fabricar.
Esta crônica volta a um passado estranho, aquele em que, de repente, não mais do que repente, o país mais próspero do mundo se viu diante da possibilidade de ter casas geladas no inverno ou sufocantes no verão, automóveis parados por falta de combustível, fábricas sem fabricar.
Isso ocorreu em 1973, quando os líderes da OPEP [Organização dos Países Exportadores de Petróleo] – sobretudo os países árabes – resolveram impor um embargo à exportação de seu óleo cru.
O evento chegou a ser classificado, por um assessor do presidente Nixon, como um novo Pearl Harbor, alusão ao ataque surpresa dos japoneses, decisivo para a entrada dos americanos na II Guerra.
O grande público foi pego de surpresa não apenas pelo fato em si, mas por uma revelação mais traumatizante. Até então a maioria dos americanos simplesmente desconhecia que a importação de combustível era decisiva para tudo na sua vida cotidiana, apesar de os EUA serem, ainda, o maior produtor do mundo.
Um livro de Meg Jacobs retrata o drama - Panic at the Pump: The Energy Crisis and the Transformation of American Politics in the 1970s (ed. Hill and Wang). Como se vê pelo título, ao pânico imediato se agrega um efeito colateral de mais longo prazo, a transformação do ambiente político norte-americano.
O embargo árabe evidenciou, de modo chocante, a vulnerabilidade dos EUA e reforçou a crença do declínio da grande potência, já abalada pela humilhante derrota no Vietnã e pela emergência do Japão como concorrente a líder industrial.

Como dissemos, houve um resultado colateral da crise e, principalmente, de sucessivos fracassos no seu enfrentamento, por parte de Washington – uma transformação que iria remanejar as tendências de opinião na sociedade americana. Firmar-se-ia a desconfiança (depois a certeza) de que “os políticos” e “o governo” eram pouco confiáveis e incapazes de solucionar os problemas nacionais. No final da década, Reagan sintetizaria essa ideia numa fórmula importante para sua escalada rumo à Casa Branca: o governo não é solução, é parte do problema.
Quem se defronta com a frase de Reagan deve porém lembrar dessa progressiva preparação do público para aceitá-la. Deve lembrar, também, que em 1973, em seu discurso de posse (segundo mandato), Nixon já adiantara o expediente: “Nós convivemos tempo demais com as consequências de depositar todo poder e responsabilidade em Washington. (...) Perguntemos não apenas o que o governo faz por mim, mas o que eu posso fazer por mim mesmo”.
Não há nenhum exagero, porém, em dizer que os choques do petróleo (1973 e 1979) foram decisivos no recondicionamento das percepções públicas, no que diz respeito à presença do Estado na regulação econômica. E é a isso que se refere o livro de Jacobs.
Ao fim das contas, o ataque surpresa do embargo e a ameaça de apagão energético mostravam algo razoavelmente previsível para quem tivesse memória e soubesse juntar os pontos. E, paradoxalmente, o desastre anunciado era filho de um sucesso, retratado, com otimismo e autoconfiança, em um artigo de capa da revista Fortune, já em 1955. O episódio é sintetizado em outro livro revelador sobre o mesmo período, de Judith Stein, Pivotal Decade: How the United States Traded Factories for Finance in the Seventies (Yale University Press, 2010):
“Em 1955, a revista Fortune, um observador precoce de tendências, declarou que a abundância está enriquecendo o homem médio, pelos padrões de cinquenta anos atrás, eliminando rapidamente a pobreza e o sofrimento, vencendo as doenças, prolongando a vida, minando instituições obsoletas, substituindo-as por outras mais úteis, ajudando outras nações a percorrer a estrada difícil e muitas vezes decepcionante da eficiência, criando mais e mais lazer e mudando rápida e radicalmente os gostos e hábitos das pessoas de todo o mundo. Talvez nada tenha alterado mais o mundo, em toda a história da civilização ocidental, do que o aumento da produtividade americana no último meio século”
Tudo isso parecia fazer sentido, naqueles anos dourados.
Em 1950, os norte-americanos possuíam 40 milhões de carros, um por família. Kennedy assumiu dizendo que pretendia colocar um segundo carro em cada uma dessas garagens. Na época de Nixon o número já havia passado dos 100 milhões. As estradas ficavam cheias de famílias curtindo férias e finais de semana prolongados. Entre 1945 e 1959, a produção de combustível cresceu mais de 50%, mas o consumo cresceu 80%. As quotas para importação, fixadas pelo governo Eisenhower, ficavam obsoletas e eram relaxadas. Os norte-americanos representavam 6% da população do mundo. Mas consumiam 1/3 da energia produzida pelo planeta. Usavam mais energia do que a soma de URSS, Grã-Bretanha, Alemanha Ocidental e Japão.
Para piorar as contas, também naqueles países o consumo crescia. Na Europa Ocidental, a reconstrução levou a um consumo 15 vezes maior. No Japão foi ainda mais avassalador, conforme registra o livro de Stein. O carvão dava lugar ao petróleo – e este vinha, sobretudo, do mesmo Oriente Médio, aquela terra de Xeiques e Xás, tribos e tiroteios, com países criados e descriados pelas potências ocidentais e suas petroleiras.
Dissemos que o problema era filho de um sucesso: a incorporação de uma enorme massa ao mundo maravilhoso do mercado de bens e serviços. Depois de 1945 o país se suburbanizou aceleradamente. Em 1976, a população da periferia ajardinada já era maior do que nos centros de cidades ou nas áreas rurais. Na região da Grande Boston, por exemplo, 83% viviam no subúrbio. Outras cidades seguiam essa proporção: 81% em Pittsburgh, cerca de 70% em Detroit, Filadélfia, Los Angeles.
Essa migração, rápida e original, fora viabilizada pelo aumento da renda, das oportunidades de emprego estável e pelas políticas de governo, com estradas, crédito para hipotecas e para negócios, acesso a ensino superior e assim por diante. Vibrava o país dos carros, mas, também, das máquinas de lavar, refrigeradores, aspiradores de pó, TVs, sistemas de som estéreo e muitas outras engenhocas consumidoras de energia.
De onde vinha o óleo que possibilitava tal efusão? Com essa alta do consumo, ele dependia, cada vez mais, dos fornecimentos do Oriente Médio. A Arábia Saudita era a joia da nova coroa: depósitos quase na superfície, superconcentrados, de fácil extração. As sete irmãs (cinco americanas, uma holandesa, uma inglesa) constituíam uma rede de poder – campos, refino, distribuição. Só que... nem tudo é tão simples. Em 1960, o Irã, os árabes e a Venezuela criaram a Opep, um cartel dos exportadores. Em 1967, uma guerra entre os países árabes e Israel acendia o sinal amarelo. Em 1973 a coisa piorava. Muito.
Era o “ataque surpresa”, o embargo. Torneiras fechadas. Pânico nas cidades americanas, diante das filas de carros, cercando os postos de gasolina... secos. Multiplicavam-se os cartazes como este: “Sorry, no gasoline”. Caminhoneiros bloqueavam estradas, consumidores enlouquecidos estapeavam-se nas ruas, em disputa de um galão de fluído.
Os porta-vozes do governo não sabiam como responder a uma pergunta agressiva: como é que o país mais rico do mundo podia conviver com a ideia de casas geladas no inverno, tanques vazios nos finais de semana e nos dias de trabalho, ar condicionado desligado nos dias quentes?
A crise da gasolina abalou o governo mais do que Watergate, corrupção e, mesmo, derrota e mortes no Vietnã. Pesquisas e mais pesquisas mostravam isso. Uns vinte anos antes da famosa frase de Clinton, reinava uma sua paródia: é a energia, estúpido.
Meg Jacobs descreve o pânico, mas salienta o tema do subtítulo do livro: aconteceria uma substancial mudança na cena política norte-americana.
Tudo isso na “década pivotal”, a de 1970, marco divisório da história americana do pós-guerra. Até ali, o capitalismo vivera sua “idade de ouro” – acumulação de capital, domínio dos mercados mundiais, relativa redução das desigualdades. A era do sonho americano. A década de 1970 foi a década da tempestade perfeita. A literatura do declinismo anunciava o fim do sonho e a chegada dos bárbaros, agora não apenas vermelhos, os outsiders, já que externos ao capitalismo, mas também amarelos, o Japão, o pais capitalista que os Estados Unidos arrasaram e depois ajudaram a ressuscitar. O empresariado conservador retomou a ofensiva, energizando think tanks, igrejas e mídia. O Partido Democrata perdia terreno para os republicanos. E o partido republicano começava a ser capturado por uma ala extremista insaciável.
A crise energética deu uma trégua. Mas deixara sequelas e não eliminara uma propensão. Os norte-americanos seguiam consumindo metade do petróleo do mundo. E metade do que consumiam viria, ainda, dos mesmos pântanos políticos. De vez em quanto um desses recantos precisava receber a mensagem certa para seguir fornecendo combustível. Foi o que se viu em 1990, no Kuwait.
Bush pai retomou o Kuwait, tranquilizando os postos de gasolina. E nos anos seguintes, o consumo subiu como nunca. Os americanos compravam carros utilitários com tração nas quatro rodas, ar-condicionado e o que mais desse na telha. Esbanjavam combustível. Em 1975, esses carros, os SUVs, respondiam por menos de 2% do mercado, em 1987 isso tinha triplicado. Em 2002, os utilitários esportivos desse tipo eram 25% do mercado doméstico de automóveis. Bebendo gasolina como o famoso pagodeiro bebe cerveja.
Os americanos dirigiam três vezes mais quilômetros do que a média dos anos 1970, a importação de óleo cru por vezes batia em quase dois terços do total consumido.
Meg olha para esses sinais e conclui, desolada: A crise energética de hoje não é outro Pearl Harbor, pegando a gente de surpresa. Será? Pânico nas Bombas II parece a caminho?