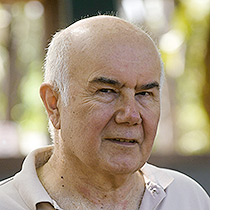A transição transada na Espanha gerou a democracia do chamado pós-franquismo. E tem várias coisas a ensinar para outros países “transitantes”. Já mencionei isso, num livrinho antigo, de 1982 (disponível no web site: www.reginaldomoraes.wordpress.com). Convido os interessados a visitar o site.
A transição transada na Espanha gerou a democracia do chamado pós-franquismo. E tem várias coisas a ensinar para outros países “transitantes”. Já mencionei isso, num livrinho antigo, de 1982 (disponível no web site: www.reginaldomoraes.wordpress.com). Convido os interessados a visitar o site.
Mas vale a pena comentar alguns desses aspectos da transição, que foram recordados ano passado, em evento na sala Mirador, Madrid, com a presença do cientista político Juan Carlos Monedero (um dos fundadores do novo partido, Podemos) e do jornalista e escritor Gregorio Morán.
Morán sublinhou um elemento fundamental para que a transição “desse certo”. Foi o medo. Houve transição transada e não houve ruptura democrática porque havia o medo. O medo intimida, cega, entorpece.
Junto com a agonia de Franco, em 1975, era o próprio franquismo que dava seus últimos suspiros – ou, quem sabe, preparava um outro modo de sobrevida. O homem que o franquismo escalou para a transição se chamava Adolfo Suarez. E se chamava Adolfo por conta das convicções “germanistas” de seu pai. Mas o Adolfo ibérico podia ser tudo, menos um estúpido. Certa vez ele comentou que, nas negociações com a oposição democrática e com a esquerda, aumentara o tamanho do monstro direitista para arrancar concessões. Não era tão difícil, digamos. A esquerda estava predisposta a acordos. E o monstro parecia grande porque era grande e antigo.
Quando nos lembramos do contexto em que Franco morreu, podemos nos lembrar de uma Espanha rebelde, é certo, mas também devemos nos lembrar que o edifício em que o cadáver de Franco era homenageado – o Palácio de Oriente – tinha filas quilométricas de admiradores e fieis. Durante anos, mesmo depois da transição, a moeda espanhola tinha duas caras, não tinha coroa: em um dos lados, a figura de Franco, no outro, a do rei Juan Carlos. Em 1981, o Guernica, de Picasso, voltou para Madrid. Diziam os espanhóis que aquele era o retorno do último exilado. Pois o quadro foi exposto em um prédio anexo ao Museu do Exército. Difícil saber de quem era a ironia, mas era um retrato da Espanha de duas coroas.

Dizia-se, na época, que a violência das ruas não era tão grande quando a esquerda esperava ou a direita temia. E o fantasma dos “homi” era ainda bem visível. Alguns analistas debitam a esse fator a aceitação de alguns dos famosos “pactos” reconhecidamente desfavoráveis para “os debaixo”.
A esquerda – inclusive o formidável sindicato Comisiones Obreras – foi levada a desmobilizar o que quer que fosse, contanto que lhe prometessem o que quer que fosse. E aceitar o que quer que fosse, contanto que desmobilizasse o que quer que fosse. Assim, postas as condições, o resto andou sozinho.
Meios de comunicação, círculos intelectuais, oposição política e sindical – todos dançaram essa música, orquestrada pelo medo. Em fevereiro de 1981 ocorreu uma tentativa caricata de golpe, com a invasão do congresso por militares ensandecidos, mas sem base nos quartéis. Em janeiro de 1982, durante o julgamento, os golpistas se insurgiram e exigiram do juiz que expulsasse da sala um jornalista, do qual “não gostavam”. Sintomático é que o juiz aceitou a demanda.
Para o bem e para o mal, como dizia um personagem de Sartre, a memória é curta quando a vida é longa. O tempo passou e se sucederam gerações para as quais o franquismo é um capítulo da história de livros escolares, não uma experiência vivida ou pesadelo reiterado. Claro, há outros medos, mas aquele se diluiu.
O desafio da oposição política – ou do que dela restou – é superar esse medo, mas manter a memória. Lá, como cá, as jovens gerações precisam de algum recuerdo que lhes propiciem as comissões da verdade, para se precaver contra os fantasmas do passado, que nem sempre são apenas fantasmas. Mas, sobretudo, para ter a ousadia que as circunstâncias roubaram à nossa geração. Se essas duas coisas se combinarem, temos um belo futuro pela frente. Caso contrário, teremos apenas o título das memórias de Vitório Gassman: um grande passado diante de nós. Um passado de medo e submissão.